O furacão de tristezas que chegou neste 20 de novembro insiste em ficar
Às vezes imagino como começou o dia 14 de maio de 1888 para quem estava profundamente envolvido com a causa abolicionista.
Às vezes imagino como começou o dia 14 de maio de 1888 para quem estava profundamente envolvido com a causa abolicionista. Penso nos anônimos que não entraram nas referências históricas. A escravidão estava abolida. Bem mais por esgotamento do modelo e pressão da Inglaterra, agora empenhada em reforçar sua revolução industrial, do que por uma tomada de consciência geral sobre os horrores de uma prática desumanizante, no estrito sentido da palavra, e, portanto, extremamente violenta. A monarquia brasileira, que avalizou a condição do Brasil como o último país escravocrata das Américas tentou, com o ato da princesa Isabel que assinou a lei na condição de regente, ganhar fôlego. Não deu certo. Um ano depois a república, via um golpe militar, estava instalada.
Se estivéssemos em época de redes sociais, possivelmente, no dia 13 de maio de 1888, o Twitter amanheceria em guerra de narrativas: haveria a efusividade de gente dizendo ser possível fazer uma frente ampla para enfrentar os ainda defensores da escravidão; outros se sentiriam de alma lavada apenas por compartilhar a hashtag lacradora escolhida para a data; os críticos dos movimentos abolicionistas iam, talvez, chamá-los de “identitários sem noção” ou dizer que havia vencido a opção sem alarde ou conflito, logo era o mais sensato contra o radicalismo de quem pregava levantes e revoltas; a turma que se veria “citada” nesse grupo iria para a guerra de palavras. Já outros apenas respirariam fundo antes de se debater na tristeza, desesperança e cansaço de mais uma vez constatar o debate raso para algo tão sério e que, embora central, continua quase silenciado na análise mais geral sobre o que se constitui o Brasil como nação.
Óbvio que aqui exerço um anacronismo, afinal em 1888 “racismo”, “identidade” “gênero” e outros conceitos relacionados não estavam elaborados para uso de forma mais larga. Mas é neste silêncio sobre os efeitos colaterais dessa diáspora forçada de civilizações africanas e sua escravização que repousa parte da tragédia que é este país. Por mais que se tente não há como fechar os olhos para esse eterno mal estar com os que descendem dessa história que mistura tanto “ismos” capazes de fazer adoecer qualquer sociedade: racismo, sexismo.
As formas apressadas e cínicas para discorrer sobre essas questões não se resumem às duas figuras nefastas que por ora ocupam a presidência e vice-presidência da República: Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, que deram declarações terríveis sobre a morte de João Alberto Silveira Freitas, o homem negro espancado até a morte em um loja da rede Carrefour. Qual é a surpresa em ouvir de um ex-militar, reformado por desrespeitar as regras da própria força, e um que chegou a alto posto da carreira negarem o racismo, desrespeitando inclusive a liturgia do cargo que ora ocupam? Quem, além de uma certa parcela do jornalismo comercial, que tem uma deferência estranha a militares, surpreende-se com os dois repetindo a doutrina irreal sobre união de raças para formar o povo brasileiro? A narrativa proferida pela dupla combina com as teses que as forças armadas abraçaram desde o início da república. O comportamento destas instituições em relação aos movimentos de Canudos e Pau de Colher, na Bahia, por exemplo, dá preciosas pistas sobre como historicamente essas forças entendem quem é o “povo brasileiro” que lhes interessa. Quem ficar em dúvida pode ainda dedicar um tempo para conhecer detalhes da disputa entre Marinha e quilombolas da localidade baiana, próxima a Salvador, denominada Rio dos Macacos.
Tristeza
Por isso ando ainda envolvida em uma ressaca de tristeza nesses dias posteriores ao último 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Não apenas por conta das imagens do linchamento e sufocamento até a morte de João Alberto exporem uma crueldade nauseante, mas também pelas outras conexões desse caso. Ocorrida na véspera do dia de homenagem à memória orgulhosa da sobrevivência da história de Zumbi dos Palmares contra a tentativa de apagamento da sua memória, tudo isso dói mais ainda por conta dos desdobramentos: o comportamento de plataformas de mídia empenhadas em levantar antecedentes criminais da vítima e gente tão ruim a ponto de escrever ofensas inaceitáveis contra uma pessoa que nunca viram em caixa de comentários de sites e redes sociais apenas para se sentir confortável na sua crença de que “racismo não existe”.
E tem ainda a anestesia. O país está tranquilo diante da brutalidade de um homem negro ser morto a pauladas e por asfixia. A banalização é mais uma das violências inerentes às mortes negras. A fila de pretas e pretos mortos por causa da cor da pele só aumenta, inclusive afetando crianças, vítimas preferenciais da negligência das balas perdidas da polícia debitadas, em sua maioria, na conta do “crime organizado”.
E essas ocorrências não têm espaçamento de décadas ou anos. São meses, dias, em várias localidades do Brasil- Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, dentre outras. De norte a sul, esse país não tolera seu próprio povo. A história da miscigenação é para servir de consolo a quem o concebeu como o paraíso de nascimento das três raças. Tem mais ardor apaixonado por esse conceito de país mestiço e em paz por essa condição do que pelas vidas negras que tombam rotineiramente. Os defensores da “beleza mulata” choram e rangem os dentes ao primeiro grito de “racismo”; vociferam seus manifestos em defesa da grande interação para formar a gente bronzeada.
Vale perguntar a estes defensores do Brasil “mulato izoneiro” se sabem o que alimentam com essa ode à miscigenação idealizada por quem senta nos batentes das casas grandes, Brasil afora, especialmente além dos espaços acadêmicos, de mídia e agora de redes digitais. Esta turma que se diz miscigenada proclama que não é racista, que tem um “pé na senzala” e muito “sangue de índio porque a bisavó foi “pega a dente de cachorro pelo bisavô no mato”. E assim, na “cara dura”, assume, mesmo que de forma enviesada, um antepassado estuprador. Prefere a homenagem ao violador do que àquele parente mais próximo negro mesmo que seja o pai ou a mãe. Tenho escutado gente socialmente branca discorrer sobre as maravilhas da sua transição capilar para os cachos. Mas em dois minutos de papo a “conversão” se revela fruto da submissão à poderosa indústria de cosméticos, espertíssima, afinal há menos de três anos essa mesma pessoa estava colocando nos cabelos um produto à base de formol para deixá-los “lisos sem uma volta”. A indústria do alisante tem sido um excelente campo de pesquisa sobre a esquiva em relação à cor no Brasil.
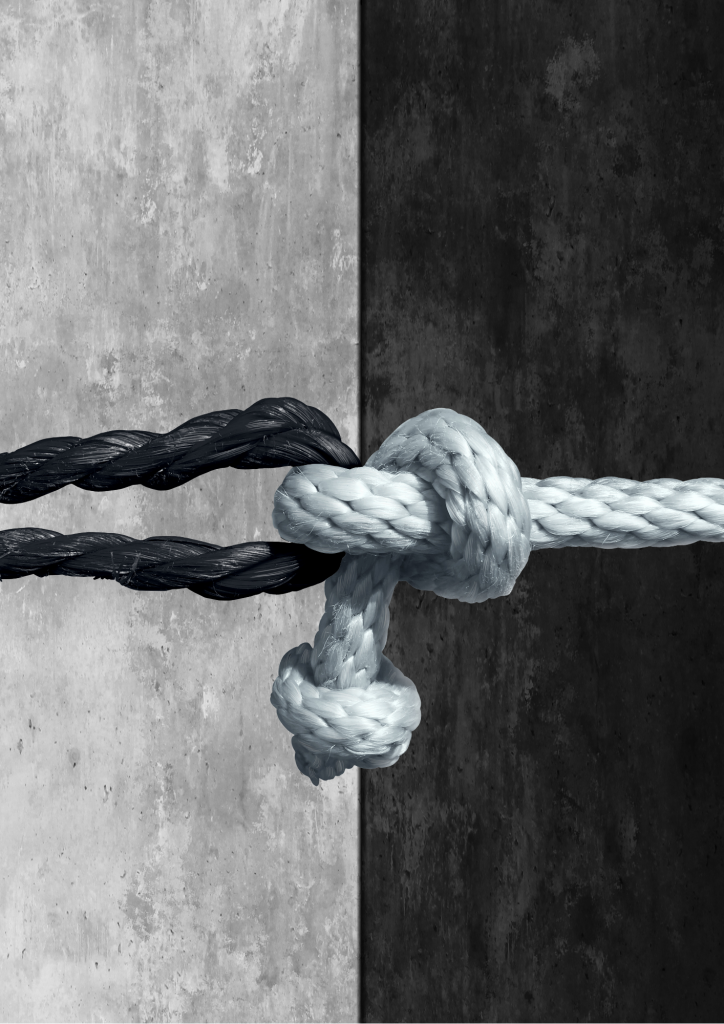
Foto: Divulgação
Negação
Passaram-se dias da morte de João Alberto. Mas diferentemente do que aconteceu em junho, como repercussão dos movimentos ao redor do mundo devido à morte de George Floyd nos EUA – sufocado até a morte por um policial branco – as celebridades brasileiras recém chegadas à luta antirracista não colocaram fundo preto em seus perfis de milhões de “k”.
No domingo teve rodada do Campeonato Brasileiro, mas com exceção do jogador do Santos, Marinho, não foram destacadas manifestações de atletas. Marinho, vítima de um comentário racista em uma rádio este ano, fez um post em seu perfil no Instagram, no Dia da Consciência Negra referindo-se à morte de João Alberto e sua relação com o racismo. Mas, no mesmo dia, Pelé fez questão de autografar uma camisa para o presidente Jair Bolsonaro. Este fez comentários negando que no Brasil tem racismo para estupor – a gente tem que começar a usar as palavras corretas, especialmente em relação a esse personagem – durante uma reunião do G-20, no dia 21. Esse é o mesmo senhor que, quando ainda era candidato, usou a medida “arrobas” para se referir ao peso de um morador de quilombo. Não satisfeito em associar pessoas negras a animais ainda disse que nem para “procriar” a vítima servia e sua língua desumanizante continuou cavalgando em direção a mais um insulto racista usado para atingir negros: o da preguiça. Essa fala de Bolsonaro foi proclamada em uma reunião nas dependências de uma associação judaica. O vídeo mostra as pessoas rindo. Os judeus formam outro povo que sofre as dores do racismo secular. Também foram vítimas de uma prática genocida durante a segunda guerra na Alemanha sob o comando do horror de Adolf Hitler. O holocausto também é um fato que volta e meia é negado por gente que segue o agora presidente e que foi endossado na sua fala racista por gargalhadas. Era de se esperar repúdio e horror, mas nesse racismo à brasileira o que a gente mais tem presenciado são os iguais às vítimas com mais ódio delas do que do seus agressores.
Crime sem castigo
Outra vitória do racismo nacional é que não são apenas as figuras toscas que reforçam essa narrativa de sua ausência nos mecanismos de exclusão e violência no país. Tem muita “gente boa” pensando de forma parecida ou contribuindo para essa resistência de pensamento: tem aquele aliado das pautas progressistas mas que não quer saber desse negócio de ficar insistindo no que chama de identitarismo; os que renegam a história de estratégias de luta de segmentos variados reduzindo tudo a uma só visão na expressão “o movimento negro”; tem ainda os que fazem a narrativa como se as batalhas de resistência tivessem surgido a partir das tretas nas redes sociais; tem ainda os que querem viver na ilusão de que nesse país nunca ocorreu tensão por conta de cor de pele.
No Brasil do cinismo racial não dá para dizer se alguém é negro pelo “olhômetro”. É preciso saber como a figura em questão vai se comportar porque mesmo “fenotipicamente negra” ela pode ser da linha que defende a “consciência humana” e faz post compartilhando a famosa declaração de Morgan Freeman, que já se penitenciou, mas continua assombrando as nossas timelines com a ignorância que irrita. É triste esse jogo que não é inocente porque continua alimentando uma rede simbólica de um crime continuado, que não dá descanso.
Brasileiras negras e brasileiros negros não precisam copiar o modelo americano. Se há algo que com certeza está em nosso DNA é o conhecimento latente de que não precisamos imitar os EUA porque o racismo nosso de cada dia não é igual ao deles. É pior. Mais virulento porque vive em meio a um pacto de silêncio.
É difícil constatar que nós, negras e negros, especialmente quando moramos em grandes cidades, mantemos o costume de deixar mãos e bolsas à mostra em supermercados e lojas de departamentos. É ultrajante como isso se torna automático, mas vem da repetição de sermos seguidos pelos olhares atentos dos seguranças desses espaços, mesmo que eles se pareçam conosco. Porque o racismo ainda faz isso: os algozes odeiam seu reflexo no espelho. E, nessa hora, os conceitos acadêmicos de “colorismo”, “hibridismo”, “mestiçagem” não tornam menos humilhante a vigilância do sistema Grande Irmão que continua a nos olhar como aquelas figuras incômodas que sobraram de um sistema de exploração que deu o que tinha que dar.
Para os que sobrevivem, o Estado, em praticamente todas as suas faces, oferece o descaso e a entrega à própria sorte. É como se nos dissessem dia a dia: danem-se. O destino dos que eram “coisas” até o dia anterior à abolição dissolveu-se nas brumas do tempo. É desesperador como a narrativa da princesa redentora, que resolveu tudo com sua caneta mágica, embala as consciências de tantas e tantos de nós. Para estas e estes é mais tranquilo viver na ilusão da tranquila mistura das raças. O problema é que, mesmo para algumas e alguns destes, o monstro racista arreganha os dentes e ataca de forma brutal. E a morte de João Alberto, Claudia Silva, Amarildo de Souza e tantas outras e tantos outros só faz a ferida doer mais e mais entre os que têm consciência negra.
