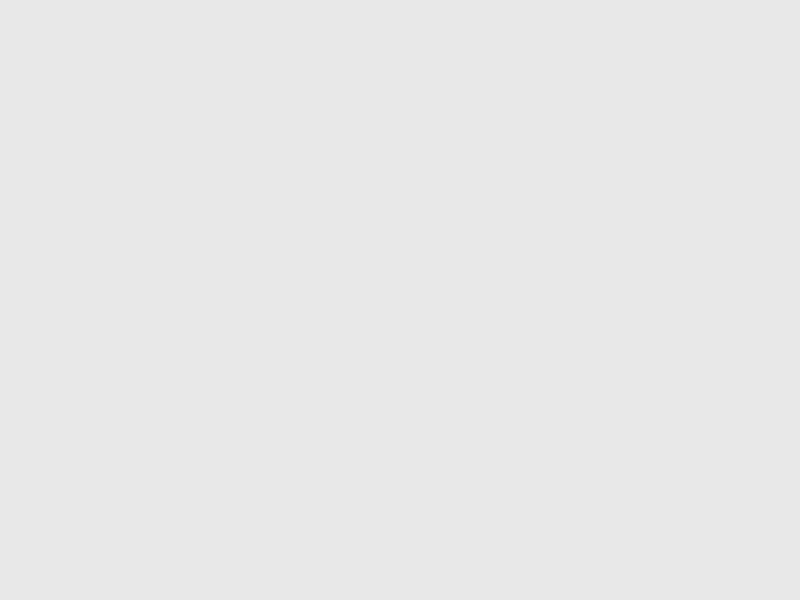Night of the Living Dead, terror de protagonismo negro
O filme estabeleceu o modelo que, mais de meio século depois, ainda dita o tom para o cinema, a televisão e até os videogames.
Em 1 de outubro de 1968, seis meses após o assassinato de Martin Luther King, lider dos movimentos pela igualdade racial e direitos civis nos Estados Unidos e Prêmio Nobel da Paz em 1964, é oficialmente lançado o Night of the Living Dead, (A Noite dos Mortos-Vivos, 1968), dirigido por George A. Romero e que teria como ator protagonista a Duane Jones, o primeiro protagonista negro de um filme de terror produzido na metrópoles do cinema. Para muitos, é o primeiro filme de Hollywood, indiferente do gênero, em que um protagonista negro tem caraterísticas de personalidade de liderança acima do resto dos personagens. Foi preciso esperar 3 anos, para a chegada de “Shaft”, dirigido por Gordon Parks e estrelado por Richard Roundtree, para que o protagonismo negro (agora também na direção) voltasse à cena no pais do norte.
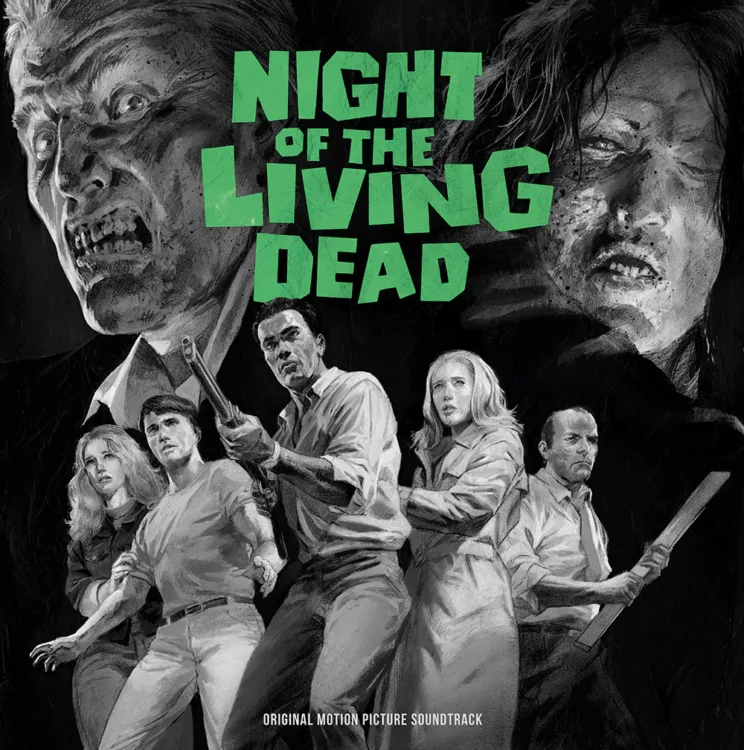
Night of the Living Dead (1968) inaugura um novo gênero dentro do terror. O filme não apenas altera a forma como essas criaturas são representadas — na aparência, no comportamento, na função dramática — como estabelece o modelo que, mais de meio século depois, ainda dita o tom para o cinema, a televisão e até os videogames.
Antes dele, o zumbi cinematográfico tinha raízes no folclore haitiano e na mitologia do voodoo. Eram corpos vivos, desprovidos de vontade, controlados mentalmente por um mestre feiticeiro. Filmes como White Zombie (1932), com Bela Lugosi, cristalizaram essa figura: não havia decomposição, nem canibalismo, tampouco um contágio que ameaçasse o mundo. O horror vinha do exotismo sombrio, do transe e do domínio mental, não da violência física de mortos famintos.
Romero (Diretor) desmonta esse paradigma e ergue algo inteiramente novo. Seus zumbis são cadáveres reanimados, destituídos de consciência, guiados apenas pelo instinto de devorar carne humana — um gesto que, em 1968, tinha força para chocar plateias e censores. A origem dessa praga é ambígua: insinua-se uma ligação com radiação espacial, mas nada é confirmado.
O contágio é implícito: qualquer morto retorna como ameaça, multiplicando o perigo de forma exponencial. A encenação reforça o desconforto. O preto e branco granulado, a câmera trêmula, as transmissões de rádio e TV intercaladas ao drama dão ao filme um tom quase documental, como se fosse uma reportagem ao vivo, gerando maior desconforto e medo no espectador.
Mas o grande diferencial está no coração da narrativa: o verdadeiro conflito não se limita à luta contra os mortos, mas à tensão entre os vivos. Medo, egoísmo e desconfiança corroem a coesão do grupo tanto. E quando o dia finalmente chega, não há catarse: o final é seco, pessimista, negando ao público qualquer sensação de vitória.
No centro da história, um homem. Negro. Determinado. Inteligente. Ben, interpretado por Duane Jones, não era um herói escrito para ser negro — mas Romero, deu o papel aquem ele acho o melhor ator que encontrou. E isso, em 1968, era mais que uma escolha de elenco: era um ato de desafio que Romero negaria até o fim.
Ao longo de uma noite claustrofóbica, Ben comanda um grupo de sobreviventes cercado por mortos que caminham e comem carne humana. Eles não são chamados de “zumbis” — Romero preferia “ghouls”, carniçais. A ameaça, no entanto, não vinha apenas de fora. Dentro da casa, o egoísmo, o medo, e a desconfiança gera mais tensão e insegurança. A genialidade de Romero e colocar esse elemento, que logo seria replicado até o cansaço em todos os filmes de fim do mundo que foram produzidos pela grande indústria do cinema: o inimigo também está dentro de nós, e entre nós mesmos.
Falar sobre um filme é sempre um ato incómodo, sobre “Night of the Living Dead”, podemos dizer que ele tem uma relevância fundamental para quem gosta de cinema de terror, e o mais importa: o filme ASSUSTA. Logo, temos a primeira aprição de um protagonista negro em hollywood, e por último, essa aparição não é aleatória. O final de Night of the Living Dead (1968) não é apenas um golpe narrativo devastador — é uma imagem carregada de simbolismo político, impossível de dissociar do contexto das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos.
Após sobreviver a uma noite inteira de horror, enfrentando zumbis e a própria desunião dos sobreviventes, Ben finalmente vê o amanhecer. Esse momento, que em qualquer outro filme poderia significar salvação, é rapidamente subvertido. Do lado de fora, um grupo de homens brancos armados — parte de uma milícia de “caçadores de zumbis” — avança pelo campo. Eles o avistam pela janela e, sem qualquer tentativa de identificação, disparam. Um único tiro. Ben cai. Não há reconhecimento de sua humanidade, apenas a execução sumária.

Na época, o público assistia a essa cena poucos meses depois do assassinato de Martin Luther King Jr., num país em ebulição social, onde negros eram mortos pela polícia ou por civis brancos armados sob o pretexto de “legítima defesa”. A semelhança com imagens reais de linchamentos e execuções extrajudiciais era perturbadora demais para ser ignorada.
A montagem final reforça a leitura política: fotografias em preto e branco mostram o corpo de Ben sendo arrastado com ganchos de açougue e lançado a uma fogueira junto aos mortos. Não há luto, não há dignidade, não há justiça — apenas a mesma indiferença brutal que o movimento pelos direitos civis denunciava nas ruas.
Romero sempre disse que não escreveu o filme como um comentário racial, mas o contexto histórico transforma a cena numa alegoria inevitável: Ben sobrevive ao apocalipse, mas não sobrevive à uma Norteamérica branca e armada. A mensagem é amarga e direta — para um homem negro em 1968, mesmo vencer os monstros não garantia a sobrevivência ao racismo.
Esse desfecho, ao negar a catarse e expor a violência racial como um perigo tão real quanto qualquer horda de mortos, elevou Night of the Living Dead a algo maior que um filme de terror: tornou-o um retrato incômodo e atemporal das estruturas de poder e preconceito que persistem, vivas, muito além da ficção.