E se todas as alternativas estivessem erradas?
Morrer ou não num battle royale? Ser conformada ao local de origem ou tentar o novo? Passar no teste ou passar fome? Essas são as perguntas que parecem desenhar o destino dos protagonistas, mas não parecem comportar a complexidade das tramas.
Nos livros de Suzanne Collins, a protagonista Katniss Everdeen está diante de uma escolha fácil de se fazer, difícil de se executar: ser morta pelo reality show Jogos Vorazes – que dá nome às obras – ou sobreviver para usar o prêmio do programa sustentando a família e minimizando a exploração que seu Distrito passa nas mãos da Capital. Na esteira do sucesso das ficções distópicas, Divergente, outra saga norte-americana, ganhou projeção também fazendo a sua protagonista escolher. Aqui, Tris Prior deve abdicar da vida previsível na sua facção Abnegação com seus pais e irmão para se arriscar na prova de fogo que será ingressar em outro grupo dessa sociedade, chamado Audácia. Uma distopia mais recente, desta vez produção brasileira, de título 3%, exibe jovens optando por dois caminhos: o primeiro está em amargar as terríveis condições do Continente enquanto o segundo se delineia no processo de se provar merecedor de habitar o cenário paradisíaco que é o Mar Alto.
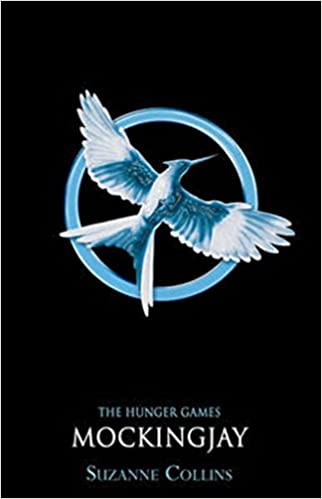
Imagem: Divulgação
Se até aqui você estranhou o termo distopia, pode estar familiarizado com seu primo não tão distante assim, a utopia, termo cunhado por Thomas More em 1516 na ocasião da celebração ficcional de uma navegação que haveria levado um marinheiro até uma ilha de república perfeita. Por mais que a palavra em si signifique “lugar nenhum”, o termo se desenvolveu como significativo de uma sociedade idealizada, uma visão de futuro onde, segundo Jill Lepore, se acredita no progresso e se oferece promessas. No outro extremo, o termo distopia foi cunhado tendo em vista o prefixo grego “dis-“, que significa algo ruim ou infeliz, empregado de forma inaugural pelo economista e filósofo John Stuart Mill, em aberta contraposição ao termo utopia. Dentro da ficção especulativa, o conceito de distopia se estabeleceu como a base para imaginação de mundos pouco desejáveis. Em suma, como dito por Lepore, distopias emitem alertas e são mais céticas quanto às ideias de progresso na sociedade.
Por tantas vezes, a distopia de muitos patrocina a utopia de poucos: os mundos imaginados de Jogos Vorazes, Divergente e 3% que o digam. Se no primeiro, Distritos explorados devem ofertar seus jovens como tributos para um reality show que lucra com o sofrimento de seus participantes, o segundo promove a alienação pela divisão dos indíviduos em facções como um grande experimento eugenista, e o terceiro escancara a cruel injustiça de um pretenso darwinismo social. Seriam inverossímeis? Talvez não, como comenta a célebre autora da distopia O Conto da Aia, Margaret Atwood: “Uma triste característica da nossa era é que achamos mais fácil de acreditar em distopias do que em utopias”.
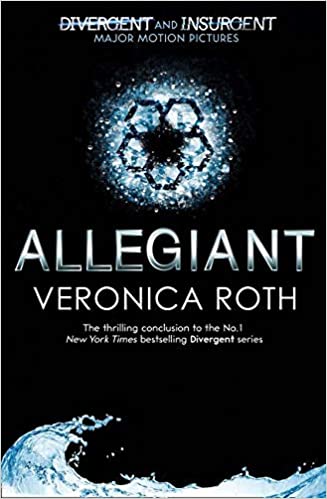
Imagem: Divulgação
Morrer ou não num battle royale? Ser conformada ao local de origem ou tentar o novo? Passar no teste ou passar fome? Essas são as perguntas que parecem desenhar o destino desses protagonistas, mas não parecem comportar a complexidade das tramas. No mundo da narrativa, isso é chamado de plot falso e plot verdadeiro. Se esses personagens estivessem meramente tentando sobreviver, optar por uma das alternativas apresentadas daria conta; a maneira de seguir adiante não é dando um passo à frente: é preciso retroceder dez casas do tabuleiro e questionar as regras do jogo.
Quando todas as alternativas estão erradas, é muito provável que a resposta esteja na pergunta. A ficção distópica entrevê armadilhas possíveis de futuros em que se cultua soluções prontas sem espaço para formular outros caminhos. Que em nossos dias atuais saibamos exigir mais das questões com as quais nos confrontamos, interrogando se elas nos oferecem mais do que uma sobrevida. Com novas perguntas nascem novas alternativas.
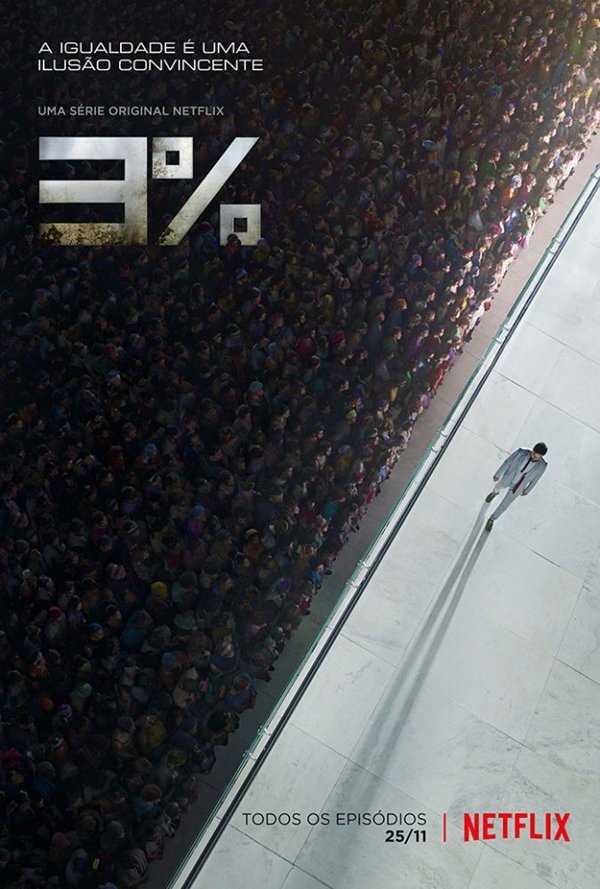
Imagem: Divulgação



