A implosão do Escola Sem Partido: relicário de uma luta
O Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade, inconstitucional uma lei do município de Nova Gama (GO) inspirada no Movimento Escola Sem Partido. Montamos, aqui, um relicário de como percebemos estas propostas e dos nossos motivos para combatê-las.
Por Lígia Ziggiotti e Rafael Kirchhoff
Memórias de 24 de abril de 2020
24 de abril de 2020 deve entrar para a história política brasileira como um exemplar dia de baixa lucidez do Poder Executivo. Do Poder Judiciário, nesta mesma data, contudo, lembraremos pelo contrário. Nela, o Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade, inconstitucional uma lei do município de Nova Gama (GO) inspirada no Movimento Escola Sem Partido. Montamos, aqui, um relicário de como percebemos estas propostas e dos nossos motivos para combatê-las.

Ilustração de Ramon Artur Freire e Elisa Rissato, do Projeto Estranhos (@_estranhos).
Raízes do Movimento Escola Sem Partido: a ânsia anticomunista
2014 talvez tenha sido o primeiro ano em que reparamos no ainda minúsculo Movimento Escola Sem Partido. Tolas, do ponto de vista jurídico, as ideias que estampava chegavam a ridículas. Representativo de uma alucinação política que progressivamente tomou campo no país, o grupo, formado desde 2004, mas ignorado por uma década, servia à ânsia de quem aliviava as próprias neuroses indo à caça de comunistas embaixo da mesa de jantar.
A nós, então como membros da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-PR, chegou um modelo de notificação extrajudicial a professores que praticariam doutrinação ideológica em salas de aula. Um punhado de artigos de leis era evocado, aleatoriamente, para se concluir que a conduta de politizar debates em espaços educacionais era ilegal e passível de punição.
Mas ensinar sobre escravidão, sobre regime militar, sobre colonização, sobre revoluções burguesas ou sobre o formato do planeta Terra sempre pode, maliciosamente, caracterizar manifestação de ideologia, porque, a rigor, qualquer escolha pedagógica é parcial. As visões de mundo compartilham tempo e espaço com pontos de vista religiosos, culturais, familiares e científicos extremamente heterogêneos e fluidos. Bastaria um desagrado à percepção dos pais sobre qualquer aspecto para ativar a perseguição de docentes.
Por isso é que aos adeptos do Movimento Escola Sem Partido cabia expandir, enfim, o que se considerava doutrinação em escolas. E não seria simples chegar a este resultado se o jogo argumentativo adotado por eles fosse leal.
Como para a criação de tantos outros fantasmas que tomaram o imaginário de parte do mundo adulto em um país sedento por informação, as fake news se prestaram à fixação de um útil pânico moral em torno das escolas brasileiras, onde se quis crer que ocorria um assustador processo de depravação da infância e da juventude. Algum refresco à memória pode ser útil.
Em 2018, o atual presidente Jair Bolsonaro empunhou, indignado, um livro em pleno Jornal Nacional intitulado “Aparelho Sexual & Cia.”. Este material, que segundo o então candidato havia sido distribuído por governos petistas para impor práticas homossexuais entre os alunos do país, foi forjado, e jamais esteve em escola alguma.
Em período similar, gerou milhões de compartilhamentos uma fala grotescamente atribuída a Fernando Haddad, principal opositor de Jair Bolsonaro nas últimas eleições, segundo a qual, caso eleito, garantiria ao Estado o direito de decidir sobre se as crianças, a partir dos 05 anos, seriam meninas ou meninos.
Outro incrível feito dentre estes que se tornaram padrões de conduta da nova política foi viralizar a fotografia de uma porção de mamadeiras com formato de genitália masculina. Acompanhada à inusitada imagem vinha a denúncia de que o governo antecedente as distribuiria em creches país afora.
Não havia dúvidas de que uma nova missão se unia à neurose anticomunista. Adjacentes às fake news acima – que, aliás, transbordam de seus interlocutores o recalque de uma vocação inconfessa para certas fantasias sexuais – estavam, então, as feministas e os grupos LGBTI – dos quais participamos – e contra o qual o setor neoconservador já manifestava o seu ódio homicida há décadas.
Ascensão do movimento neoconservador: as cruzadas anti-gênero
Para certo setor, foi mesmo insuportável a conquista de alguns direitos às minorias sexuais. Descredenciá-los sob a pecha de promoverem “ideologia de gênero” entre crianças e adolescentes foi a carta lançada para a atualização do Movimento Escola Partido – que passou a investir em alianças com lideranças religiosas, progressivamente, a partir de 2009.
Tempos depois, em 2015, desandariam as Casas Legislativas municipais e estaduais do país a proibir a “ideologia de gênero” em escolas. A legislação de Nova Gama, por exemplo, sepultada pelo Supremo Tribunal Federal por incompatibilidade com a Constituição Brasileira, aplicava a vedação, mas, como outras, não se debruçava sobre o sentido do que proibia.
A experiência em discutirmos tantas vezes o tema junto à Câmara Municipal de Curitiba e junto à Assembleia Legislativa do Paraná nos fez perceber que sequer os próprios responsáveis por estes atos normativos encontravam sucesso ao tentar explicar o que comporta a chamada “ideologia de gênero”. É que a análise detalhada sobre a criação do sentido hoje compartilhado por este e mesmo por outros países acerca desta expressão nos conduz à conclusão de que o seu uso não é racional.
De fato, quanto à adesão transnacional à causa, este discurso se espalhou fortemente em vários países, como exemplifica a Itália, onde, em 2014, grupos religiosos emplacaram uma luta que encontrou o seu auge em 2015 contra a chamada “ideologia de gênero”. Já “Mis Hijos Mi Decision” é uma associação espanhola de 2013 que também prega o combate ao feminismo e aos grupos LGBTI. Na América Latina, sobram exemplos com a mesma tônica. Slogans como “Con Mis Hijos No Te Metas”, articulado no Peru em 2016, manifestaram-se contra as políticas de igualdade de gênero em educação. Até mesmo nas disputas de narrativas em torno do referendo ao pacto de paz com as FARC, na Colômbia, aleatoriamente, a ideologia de gênero foi acionada por grupos conservadores como instrumento de convencimento contra a aprovação.
As cruzadas anti-gênero se dão de modo transnacional por investimento do discurso religioso encampado, originalmente, pela Igreja Católica. Houve crescentes manifestações do Vaticano, desde a década de 70, entoando supostos ataques à natureza feminina e à natureza masculina pelos grupos de defesa de direitos das mulheres e de minorias políticas. É mesmo em documentos do Vaticano que nasce a expressão “ideologia de gênero”. Durante a década de 90, a Santa Sé investe contra o reconhecimento de formas plurais familiares e contra a garantia de direitos sexuais e reprodutivos às mulheres como direitos humanos.
Daí se seguiu um acúmulo de décadas para a maturação da expressão “ideologia de gênero” como recurso semântico embebido do flerte anti-intelectual e concretizado em uma estratégia política barata de descredenciar a luta global pela igualdade de gênero. Não é à toa que o Vaticano resolve se envolver com a questão justamente em uma década de progressivo debate sobre as assimetrias de gênero nos espaços das militâncias sociais e das universidades.
Mas o gênero, longe de ser uma invenção, é vivido antes mesmo de nascermos. Está na cor de nossos quartos e de nossas roupas, está no nome que nos é atribuído antes de virmos ao mundo. Durante a infância, está nos comandos que recebemos exatamente por sermos meninas ou meninos. Os adultos se esforçam, diariamente, para que as crianças vivam conforme certas normas de gênero. E durante a escola, isso não é diferente. Lá, não raramente, as brincadeiras se organizam a partir desta divisão. Também os esportes. Os grupos de amizade pelos corredores.
Há alunos que parecem completamente coerentes com as normas hegemônicas de gênero. E também há milhares de alunas e de alunos que sofrerão, todos os dias, com a dolorosa discriminação por não estarem dentro destas regras. É ao ponto de sofrerem agressão de colegas; de não se sentirem parte da comunidade educacional; de abaixarem o seu rendimento em sala de aula até talvez de se tornarem mais uma estatística de evasão escolar e, portanto, de exclusão social permanente.
Nesta lógica, a bem da verdade, quem mais se esforça em doutrinar os corpos conforme uma ideologia de gênero é quem diz a um menino, por exemplo, que ele deve ser violento em razão do seu sexo. Ou quem diz a uma menina, por exemplo, que ela deve ser submissa, pelo mesmo motivo.
Ao fim e ao cabo, nenhum professor jamais lecionou a um aluno como se interessar, afetivamente, por outro aluno. Nenhuma diretora instituiu que os jovens devem adotar nomes sociais diversos do gênero indicado em seus registros civis. Nunca houve distribuição de apostilas com um passo-a-passo de como transformar alguém em termos de orientação sexual ou de identidade de gênero. Estas realidades espontaneamente se apresentam em nossa sociedade, porque vivemos em um mundo plural, e o que nas salas de aula se deve ensinar, sim, é que todas as formas de ser, de amar, de se expressar e de viver têm ali espaço. Da mesma forma, deve ocupar-se de dar a estudantes informações mínimas para permitir identificarem situações de violência, cujo cenário mais comum, como atestam as estatísticas, é a própria casa.
A despeito disso, liberdade e felicidade não são valores caros ao neoconservadorismo, que flerta, sem qualquer pudor, com tendências autoritárias. Não por menos, injeta-se mais um elemento de análise às tendências inauguradas pelo Movimento Escola Sem Partido: a militarização da juventude.
Como um passo ainda em curso da iniciativa, para regrar os corpos infanto-juvenis, crescem os desejos de militarização das escolas e da política de prevenção à gravidez na adolescentes através da narrativa de abstinência sexual.
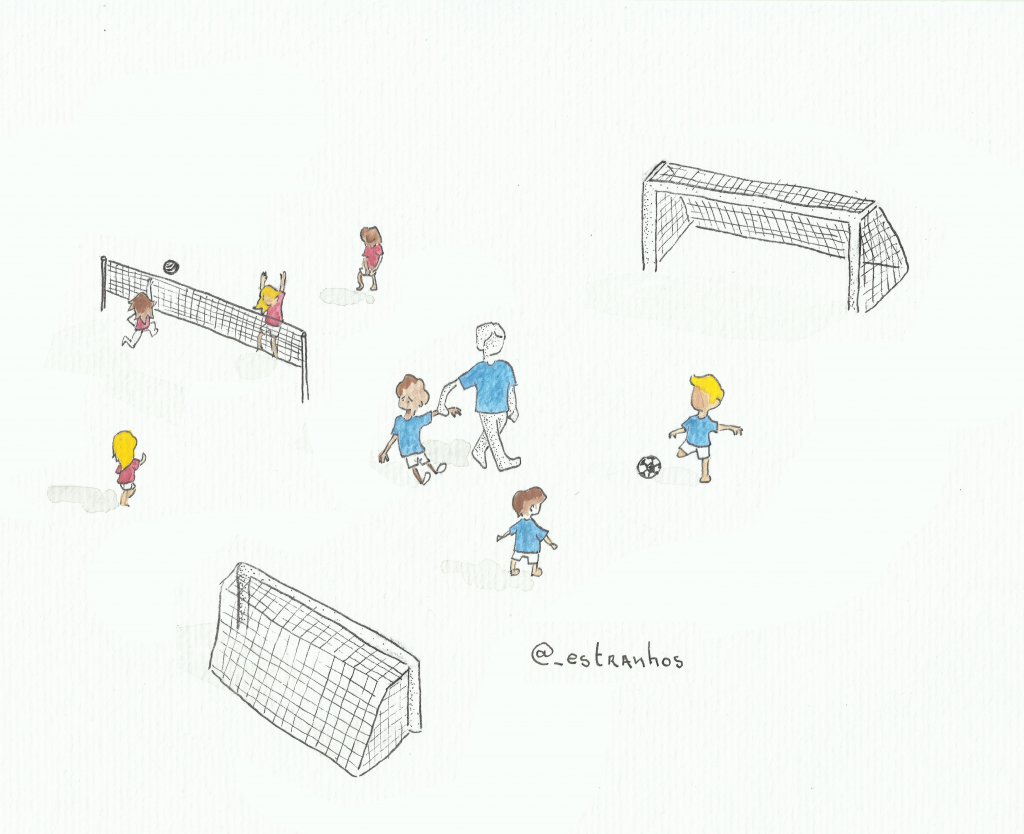
Ilustração produzida por Ramon Artur Freire e Elisa Rissato, do Projeto Estranhos (@_estranhos).
Endurecer corpos: os devaneios de controle da juventude
Com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o Movimento Escola Sem Partido se aproxima cada vez mais da vocação de pequenez que desde os primórdios carregou. Mas os riscos não estão superados.
O Programa Nacional dasEscolas Cívico-Militares (ECIM), instituído em setembro de 2019 por decreto presidencial, parece resposta institucional que ecoa sentidos propagados pelo Movimento Escola Sem Partido. E vai além. Menos amador, não proíbe expressamente debates relacionados a sexualidade ou direito das mulheres, embora esteja impregnado da lógica excludente de minorias sexuais, num reforço e ativação constante das normas de gênero já mencionadas.
Do álbum de memórias, localizamos a proibição do ingresso de mulheres nas forças armadas; a valoração negativa da homossexualidade no Código Penal Militar até recentemente– também declarada inconstitucional pelo STF, há quatro anos; e a reconfiguração da disciplina de Organização Social e Política do Brasil – OSPB, criada no governo de João Goulart para promover o desenvolvimento de uma consciência cidadã no corpo discente, mas que na ditadura foi utilizada para propagar o culto à pátria e aos valores do regime.
Estes exemplos dão conta do enaltecimento da masculinidade viril pelas forças armadas e sua preferência, dentre os homens, por aqueles mais disciplinados, capazes de obedecer a ordens orientados unicamente pela hierarquia, e descolados de reflexão crítica sobre seu conteúdo.
Instituídas por decreto sem qualquer consulta à sociedade, as escolas cívico-militares se expandem à medida que unidades da federação e municípios aceitam a parceria com o governo federal e indicam escolas que devem passar a contar com militares da ativa e aposentados para apoio em gestão escolar, pedagógica e administrativa.
Numa escola que adote a disciplina e a obediência hierárquica como valores orientadores da gestão pedagógica, que destino aguarda os corpos indisciplinados e as mentes contestadoras na hierarquia militar? É possível imaginar uma cidadania gestada em uma lógica tão brutal como a dos quartéis, distante da proposta de convivência entre iguais e da possibilidade do dissenso que compõe o ideal democrático?
Em outra frente, notam-se movimentos do governo federal direcionados à moralização da sexualidade juvenil. A campanha “Tudo tem seu tempo: adolescência primeiro, gravidez depois” – anunciada como complemento às demais políticas públicas para prevenção da gravidez na adolescência – conforma resposta estatal ao que em 2015 as cruzadas anti-gênero chamavam de erotização da infância. Assim foram tachadas as propostas de educação sexual e de pedagogias trabalhadas transversalmente pelo campo educacional. Seria excessivo considerar progressistas as lições implementadas naqueles espaços, porque tantas vezes estavam associadas, só e simplesmente, à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e de gravidez precoce, sem enfrentar as principais inquietações da juventude quanto ao tema.
Acusada de calar sobre questões que afetam gravemente a vida de adolescentes, a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, elegeu a gravidez na adolescência para abordar a sexualidade juvenil. A proposta é aconselhar adolescentes a se absterem de relações sexuais como forma de prevenção. Embora negue o viés moralista da iniciativa, em falas públicas sobre a campanha, a pastora chegou a comparar a vida sexual a uma fita crepe: quanto mais usada, com menos força se cola a objetos. Emplacou, com isso, uma metáfora duvidosa para dizer que quem tem muitos parceiros não mantém relações duradouras.
É certo que ninguém se oporia à ideia de orientar adolescentes a bem decidir o melhor momento para iniciar a vida sexual. Não parece ser esse o objetivo da campanha, contudo. Um olhar atento é necessário para entender os sentidos que a campanha pretende dar à sexualidade e em que medida ofende a laicidade estatal. Um possível desperdício de dinheiro público com propostas de eficiência questionável também merece monitoramento.
Ao dia 24 de abril de 2020, aquém e além
Ao final de 2016, contemplávamos, em uma certa noite, os já por nós conhecidos rostos mal humorados dos integrantes do Movimento Brasil Livre. Entusiastas do Escola Sem Partido, estavam aos berros, como de costume, junto à Praça Santos Andrade, onde fica o Prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná. Mediávamos, tanto quanto possível, manifestantes, força policial e transeuntes curiosos. Lá dentro, fechados a cadeado, estudantes secundaristas ocupavam o pomposo saguão de mármore de que se orgulha a mais antiga Faculdade de Direito da capital.
Para esta adolescência em luta, perdia sentido uma escola que ensinava, com toda a precariedade do ensino público, as disciplinas dedicadas à mera inserção no mercado de trabalho. Estavam cientes dos postos profissionais que os aguardavam – este contingente de estudantes, futuros concorrentes em vestibulares e em entrevistas de emprego daqueles da elite curitibana, matriculados nas melhores instituições, bem demarcados em raça e em classe social.
O recado era claro. A juventude não estava à disposição dos interesses do Estado e do mercado. Resistiria e criaria a sua própria agenda estudantil. Naquele ano, massacradas pela opinião pública que ascendia como situação no campo eleitoral, as ocupações das escolas públicas abrilhantaram a decadente agenda política nacional.
Anos depois, o Supremo Tribunal Federal também abrilhanta o dia 24 de abril de 2020, que, até à noite, parecia só decadência. A Corte deve ser acionada, ainda, em mais ocasiões para reafirmar o compromisso com a Constituição quanto à educação democrática e igualitária.
Celebrada a importância do papel do Poder Judiciário, algo nos sugere, porém, que é a juventude crítica e insubmissa ao controle brutal que deve cristalizar o futuro fracassado do Movimento Escola Sem Partido. Os seus adeptos estão fadados a retornar ao ostracismo do pior passado de cuja mentalidade são tributários. Que voltem, com isso, a aliviar as próprias neuroses através da caça de inimigos imaginários embaixo de suas mesas de jantar e nunca mais em escolas brasileiras.
Lígia Ziggiotti é doutora em Direitos Humanos e mestra em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Civil da Universidade Positivo e vice-presidente da Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos LGBTI – ANAJUDH (@anajudh_lgbti).
Rafael Kirchhoff é advogado, militante de direitos humanos e presidente da ANAJUDH.
