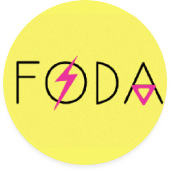Yakecan: uma raiz-cabocla de Crateús para o arco-íris
Mulher indígena, sapatão, atriz e comunicadora, Yakecan Potyguara já é referência no ativismo conjunto de inúmeras bandeiras de luta no Ceará
Por Paulo W. Lima
O Coletivo Transpassando de combate à transfobia e demais preconceitos, juntamente com o Coletivo Kintal de Afetos de produção cultural periférica e acessível – integrando a Maratona FODA – tem a honra de participar desta sequência de entrevistas com artistas e ativistas LGBT+ atravessadas por outras pautas e existências também marginalizadas pelos padrões e paradigmas sociais excludentes e coloniais que seguem sendo impostos até hoje na sociedade brasileira. E é com grande alegria e encanto que abrimos essas entrevistas em participação necessária e forte da atriz, fotógrafa e comunicadora indígena e LGBT+ Jéssica Yakecan Potyguara.
A entrevista, feita online e registrada em audiovisual, foi marcada pela energia calorosa e o bom humor típicos do nordeste brasileiro. Yakecan, sempre muito disponível, pedagógica e certeira – como flecha – trouxe nessa entrevista trajetórias, prazeres e dores que compõem não só a sua existência, mas também atravessam as identidades políticas de vários grupos sociais aos quais Yakecan se sabe pertencente: mulher, indígena, nordestina, sapatão, gorda, artista… São muitas as lutas diárias, as quais requerem uma força impossível de gerar e de manter sozinha. Yakecan nos mostra através dessa entrevista a importância de conhecermos nossas raízes, de reconhecer nossos desejos de brotar e nosso encantamento por poder contar com nossos chãos e nossas fontes de luz e calor: as parentas e os parentes de sangue, de comunidade e de luta.
A seguir, você pode conferir a entrevista transcrita na íntegra e concluída com um ensinamento ancestral do encontro entre a festa, a fé e a luta que Yakecan nos traz como um presente, uma encantaria de força em ritmo originário, nos lembrando que LGBTfobia também é uma herança maldita da colonização. À Yakecan, à Tybyra, à todys que vieram antes de nós… e por aquelas e aqueles que ainda virão, nossa gratidão e nossa luta! Katureté a esta #ArtistaFoda, Yakecan Potyguara!

Foto: Mídia NINJA
Yakekan, querida! De partida quero agradecer, em nome do Coletivo @kintal.de.afetos, do Coletivo @transpassando e da Maratona Foda / Mídia NINJA, pela sua disponibilidade em participar desta entrevista! É uma enorme alegria abrir essa sequência de entrevistas para a coluna Artista FOdA com uma mulher indígena LGBT+! Seja muito bem vinda e fique muito à vontade!
Yakecan Potyguara, venho te acompanhando pelo seu ativismo indígena e LGBT+. Você carrega a alcunha de ser uma das fundadoras da página @indigenaslgbt_crateus no Instagram. E esta foi a primeira vereda que cruzamos com você. Mas, para além de fundadora desta página de conteúdos importantíssimos, quem é Yakecan Potyguara? Quais suas raízes e por onde você passou até chegar a ser a comunicadora e artista que conhecemos hoje?
Ah, obrigada! Obrigada! É um prazer estar aqui e, para mim, é uma honra. Fico feliz que você acompanha desde algum tempo e vem acompanhando o coletivo. E para mim, estar aqui é um prazer grande, representar a comunidade indígena LGBT+, daqui – sertão de Crateús, mas também do Estado do Ceará. [Indígenas LGBT] É um coletivo novo, mas é um andado aí de muito tempo. E é isso.
Eu vou falar um pouquinho de mim, vou me apresentar um pouco: eu sou Jéssica Yakecan. Sou aqui de Crateús. Sou filha de duas lideranças: Pajé Cícero Potyguara e Eliane Potyguara. Sou militante indígena e também sou fundadora do Coletivo Caboclas, que é @indigenaslgbt_crateus. Também sou comunicadora indígena na APOINME – que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo – e também sou atriz, e faço fotografia. Aqui e acolá faço fotos do meu povo, e também já trabalhei com gênero e sexualidade dentro da fotografia, levando o bem ao mundo da arte, né?! E é isso, é um pouco de Yakecan.
Procurando lhe conhecer melhor, descobri o Projeto Noda de Caju, do qual inclusive faz parte a atriz Barbara Matias – a qual eu já conhecia pelo projeto do Museu das Marrecas. O Noda de Caju, que tem parte do processo disponível no YouTube, vocês conceberam durante a Pandemia do COVID-19, correto?! Conta mais para a gente como foi o processo criativo deste projeto artístico. O que mobilizou a equipe deste projeto? Por que este nome “Noda de Cajú”? Qual o objetivo deste projeto?
Então, o projeto Noda de Cajú é um projeto realizado pela Bárbara. Até 2020 a gente não estava tendo contato. Foi o primeiro contato. Bárbara entrou em contato comigo porque eu participei de uma live e ela assistiu, junto com o Juão Nyn. E daí a gente teve esse contato. Ela falou sobre a história, a retomada dela… e ela me convidou para fazer parte deste projeto. E fiquei muito encantada de estar: a partir de 2020, outubro, a gente começou a escrever esse projeto juntos. Convidamos Bárbara Luz, que é da Paraíba; e junto com o Jamal, que também é do Crato, Karirí. E daí a gente começou a trabalhar nesse projeto, começamos a conversar sobre as nossas vivências e trazer esses corpos indígenas. Esse projeto foi pela SECULT-CE, com a Lei Aldir Blanc, e conseguimos passar. Foi um pouco difícil, porque foi mesmo na Pandemia. Tivemos o maior cuidado. Convidamos Bruna Mabellz, também de Crateús, Potyguara, uma parenta.
Foi um pouco complicado porque tivemos a dificuldade de sair daqui de Crateús – porque a gente estava inventando de sair em atividade com as parentas indígenas e pedir permissão – e daí nós começamos a desenvolver este projeto lá no Crato. E começamos a falar sobre os nossos corpos, porque nós que somos mulheres indígenas também fomos muito violentadas; e falar sobre nossos povos, duas etnias: Potyguara e Kariri, que vem fazendo essa trajetória toda. E daí vem essa história de criar um nome: qual o nome que a gente podia criar? Aí veio Noda de Caju. Aí a gente, será que vai ser o mesmo nome da banda de forró mesmo? [risos]
Por que que a gente escolheu esse nome? Porque a gente tem uma bebida – e o cajú é muito tradicional para os povos indígenas, aqui do Nordeste, e principalmente no Ceará – que é o mocororó. O mocororó foi uma trajetória assim dos povos Kanindé, mas os povos aqui das 14 etnias [presentes no Ceará] utilizam no Toré, que é a dança sagrada. Daí eu conversando com elas sobre o mocororó, como é que o mocororó é feito, a fermentação do mocororó, a história do mocororó… daí a gente trouxe o nome Noda de Caju, que é um encanto também, de Maara, que é uma encantada dos povos Kariris, que são lá do Crato, e a gente trouxe a Moara também, dentro da história, que cantava os povos. Aí veio essa tradição do cajú, noda de cajú. E até em alguma das cenas a gente mostra como é que é feito o cajú, néh?! Então também a gente trouxe esse nome Noda de Cajú com mode [por conta do] mocororó, que é uma bebida sagrada que os povos indígenas daqui do Ceará cultivam e tem essa tradição. E daí veio essa história das lutas.
A gente fez um curta que está em festival…
Como chama o curta, Yakecan?
É Noda de Cajú também. Só que o nome é Projeto Noda de Cajú, para a galera não confundir com a banda de forró, né?! (risos). Porque se a gente botar “noda de caju” aparece a banda. Aí tem que botar “projeto Noda de Cajú”. Mas o curta mesmo chama “Noda de Cajú”, que tá em festival.
A gente teve algumas cenas ao vivo, que mostra também nas lives: a gente pensou em fazer lives e convidar outras pessoas, outras lideranças indígenas – como teve Teeka Potyguara, que fala sobre as línguas maternas do povo Potyguara daqui de Monsenhor Tabosa, Ceará. Teve outros convidados como parentes indígenas: teve Juão Nyn, teve outras peças ao vivo também. Teve outros cantores, artistas, como Jéssica Caetano que fez uma participação muito especial, fora outros convidados, como teve a Indja, a Indja Kariri – que é uma grande artista trans não-bináriy – também esteve com a gente. E ouvimos um pouquinho da Indja também que falou sobre a sua arte, sua pintura. Então foi um projeto assim bem massa: conhecer as minhas parentas pessoalmente, que foi um prazer enorme; conhecer também a comunidade das Marrecas, que fala sobre o museu. Eu estive lá também. E é um museu que está em campanha para [receber] ajuda. Quem quiser também ajudar com qualquer quantia… Então assim, fiquei muito feliz conhecer a comunidade Marrecas, conhecer os povos Kariri, que estão em processo de Retomada também, porque a gente vê esse processo de retomada, somos povos de retomada. Nós do Nordeste fomos os primeiros povos a serem colonizados. Os Potyguaras, meu povo Potyguara, é da Paraíba e veio nessa trajetória até chegar aqui no Ceará.
Então, trazer o projeto Noda de Cajú, falar sobre a nossa retomada, sobre a vivência da mulher indígena dentro do campo e sobre a vivência LGBT indígena também, falar dos corpos não-bináriys… para a gente foi muito massa. Foi um prazer enorme fazer esse trabalho. E é um trabalho excelente, incrível. Passamos um mês e quinze dias juntos e foi incrível para mim. Com cuidado, tivemos o maior cuidado. Mas foi muito importante dividir a minha luta, escutar as lutas das parentas. Foi uma experiência incrível.

Foto: Isis Medeiros
Falando em encontrar as parentas, a gente encaminha para a pergunta seguinte: mulher, indígena, LGBT+, nordestina e artista… Você carrega identidades políticas que o Brasil colonial insiste em querer invisibilizar, silenciar e – na maioria das vezes – exterminar em nome da pretensa máxima de “ordem e progresso”. Viver levantando essas bandeiras não é fácil. Onde você encontra forças para seguir levantando essas bandeiras? Quais são seus portais para acreditar em outros futuros e outros mundos diferentes daqueles que a colonização impõe ainda hoje?
Essa pergunta é a mais difícil porque é bem complicado mesmo… Pra mim, ser uma mulher indígena, liderança e ainda lésbica é muito dificil, porque a gente sabe que nós vivemos muito machismo dentro das comunidades ingígenas – e fora também das comunidades indígenas. Acho que em todo lugar. E, para mim, o que me ajuda, me fortalece, me dá força acho que primeiramente são os meus encantados, que me dão muita força para eu ter coragem de enfrentar todas as barreiras que eu enfrento todos os dias: ameaças, conflitos dentro da comunidade, tem até nas redes sociais… na pandemia foi um pouco difícil… Mas, para mim, o que dá experiência, coragem de lutar são as mulheres mesmo da comunidade, né?! Primeiramente a minha mãe, que sempre me orientou, me ajudou muito nesse processo de como trabalhar dentro do movimento, porque ela me fortaleceu muito desde erê, de criancinha que ela me levou pra dentro da luta, pegava no colo e me levava; mostrava como ia ser a luta… Aí teve um dia que ela viajou para Brasília e eu acho que eu tinha uns cinco anos. Até hoje eu me lembro. A gente foi deixar ela na rodoviária e eu tava chorando… aí ela disse que um dia eu ia saber um dia porque ela estava indo. E hoje eu sei o quê que ela passava. E eu estou sentindo isso.
Eu acho que minha mãe me deu muita coragem. E outras mulheres também, como dona Elena Potyguara, que começou o movimento indígena daqui também, das retomadas – porque aqui em Crateús tem cinco povos que estão em processo, que estão em luta pelo seu território e pela sua terra. São os Potyguara, os Tabajara, Tupinambá, Kalabaça [e Kariri]. E a dona Elena é uma grande mestra Potyguara, grande educadora também; e dona Mazé, que é uma pajé – primeira pajé mulher daqui de Crateús; dona Tereza Kariri… aí vem outras mulheres também que me dão muita força com essa luta delas, como a Luiza Canudo, que é uma grande mestra, uma grande indígena feminista e é uma camponeza também e que fortalece. A Luiza Canudo, no ATL [Acampamento Terra Livre], ela mostrou… porque o preconceito é grande, [sobre] nós que somos do Nordeste! E principalmente das mulheres nordestinas… Luiza Canudo, lá no ATL, neste ano de 2022… foram dizer que não existiam indígenas no Nordeste.
Luiza foi a única mulher indígena do Nordeste que subiu no palco e falou que tem sim, indígenas! Fomos os primeiros povos que foram colonizados, apagados e as mulheres indígenas do nordeste foram as primeiras a serem abusadas… e ela [a Luiza] tirou a camisa e mostrou que tinha mulher indígena, que os indígenas do nordeste resistem e sempre resistiram. Então é isso que fortalece, que me fortalece dentro do movimento. Porque as coisas que – nós que somos ativistas indígenas, e principalmente eu que sou da juventude, e uma mulher lésbica – as coisas que eu passo são bem complicadas. E eu ainda estou passando… Então são essas pessoas que me fortalecem, que me acolhem, que me ajudam a estar enfrentando essas barreiras. Porque se não fosse, eu acho que eu não estava mais nem aqui. Então, para mim, são essas mulheres que me inspiram, que me dão essa coragem. E fora outras pessoas também, né?! Porque tem muitas mulheres na juventude que também são firme e forte na luta.
É muito bonito e potente ver você falar que, enquanto mulher, a sua força você encontra nas mulheres. Isso é muito forte quando a gente pensa, inclusive, que boa parte das origens dos nossos povos são matriarcais e que esse processo de patriarcalização e os preconceitos que surgem também nas etnias dos povos originários é fruto da colonização também.
Exatamente! O preconceito que eu sofri e ainda sofro [é colonial]. Quando eu comecei a lutar, falar sobre minha sexualidade dentro da comunidade não foi fácil. Chegaram para mim dizendo assim “olha, não existe filha de pajé… não existe isso… não pode… uma mulher com outra mulher. Isso é muito feio. Isso é ridículo!”. E eu ficava assim: assustada. Como é que pode? Como eu posso falar? Como eu posso chegar no meu povo? Eu não tinha uma ajuda assim na comunidade… daí eu comecei a pesquisar, comecei a fazer algo para eu me defender, para eu começar a falar sobre isso e chegar com calma. E daí eu achei um livro [chamado] “Existe índio gay?”, do Estevão [Fernandes], que é um indigenista escritor. Eu fui lendo até chegar e me entender desta forma. Aí eu conheci, pesquisando, a história de Tybyra, que sofreu homofobia no Brasil. Daí fui me fortalecendo. E hoje eu sou a primeira indígena do Ceará que levanta a bandeira LGBT dentro do toré – em 2019.
Parece que foram os encantados que [disseram]: vai, vai, que você vai conseguir! Daí, na hora do toré eu levantei a bandeira. E acho que é mesmo um poder da mulher indígena sapatão! (risos). E tem que fortalecer este movimento também. Então, pra mim foi uma honra. Então, este ano, conversando com meus parentes, todos me apoiaram quando tivemos a palestra no palco do ATL – foi histórico – e eles tudo assistindo, aplaudindo… foi um momento, assim, muito feliz para mim ver isso. E também os mais velhos. Pra mim, uma experiência dos mais velhos é meu pai. Ele ajuda! Ele que me recebe na casa dele, ele que recebe as reuniões do coletivo Caboclas. Quando não é aqui em casa é na escola indígena, quando não na escola indígena a gente faz nas ruas… Então é ele quem vai dar ajuda, fortalecimento… como pajé, como ancião que entende e que está passando para os outros anciãos também. Eu sei que tem muito preconceito dentro da comunidade indígena e não só dentro da comunidade indígena. Até dentro dos movimentos LGBT o povo tem preconceito com o movimento LGBT indígena. Mas, hoje mesmo a gente está lutando e tirando essas barreiras, porque não há nada fácil.

Foto: Regilene Alves
Você falou agora há pouco sobre Tybyra… Eu lembrei aqui de sua entrevista para o Podcastão sobre você estar estudando o idioma nheengatu. No seu Instagram você se apresenta escrevendo “Atryz, Atyvysta, Indígena Potyguara e Fotografya” e, nessa escrita você troca a letra “i” pela letra “Y”. Recentemente o artista Juão Nyn (de quem você já falou aqui), também da etnia Potyguara escreveu o livro “Tybyra: uma tragédia indígena brasileira”, onde ele faz o mesmo movimento de troca. Explica melhor para quem está nos acompanhando: o que significa esta troca de letras do “i” pelo “y”? O que está em jogo quando vocês alteram a língua portuguesa desta forma?
Então, a gente vem fazendo essa trajetória da língua retomando a língua porque o segundo povo que teve sua língua apagada foram os Potyguara. O nheengatu é uma língua moderna, de agora. A gente está nesse estudo já vai fazer uns três anos. Paramos um pouco durante a pandemia, mas já estamos retornando. Mas, quanto a trocar [a letra], eu fui pesquisando, perguntando a ele… ele sempre escrevia com Y e eu nunca me toquei. Aí teve um dia com vergonha, mas eu perguntei a ele porque ele trocava o “i” com o “y”. Porque assim: nós Potyguaras somos muito apagados. E o “i” vem da colonização. E o “y” vem trazendo essa forma de tirar mais a língua, trocar o português que [a colonização] vem trazendo.
Então o Y já é uma força ancestral dos povos Potyguara, como vem que somos filhos de camarões também. O “i” apaga muito a gente. Aí eu fui lendo e dentro do Tybyra ele [o Juão Nyn] explica melhor porque a troca do “y” com o “i”. E hoje eu vejo que tem muito parente que depois que leu Tybyra – que traz essa trajetória – tem muitos parentes que agora estão escrevendo com Y também. Então eu vejo que o Y traz essa formação, essa resistência. Aí as vezes as pessoas perguntam: “mas será que o Y é indígena ou não? É branco?… Porque no alfabeto…”. Tem essa polêmica ainda. Mas não!
O Y é do movimento indígena. É das línguas indígenas, como nheengatu, como o tupy. E no tupy também, a gente está nessa trajetória do tupy antigo trazendo para dentro das comunidades. Então, o Juão Nyn traz muito sobre isso e ajuda muito a gente. Ele traz essa força para a gente. A gente aprende muito com ele. Para mim, o Juão Nyn é um grande artista que eu admiro muito. Um grande amigo pessoal, irmão de luta, irmão de vida e grande escritor que estuda sobre a vivência de Tybyra. Vamos comprar o livro Tybyra, que é incrível. Quanto mais você lê, mais você quer saber… Você pega uma viagem alí. Onde eu ando é com meu livro do lado! (risos) Apresentando.
Vira quase um livro sagrado do movimento LGBT originário, néh?! (risos)
Sim… sim!
Você é uma mulher jovem e já tem um destaque significativo tanto na luta indígena como na luta LGBT+ cearense. Quais são os maiores desafios e as maiores belezas de ocupar os espaços que você vem ocupando através das suas lutas? Existe alguma dessas lutas que te cobra dedicação maior ou ambas são igualmente desafiadoras? Como você relaciona essas lutas?
O mais difícil é enfrentar a lgbtfobia – homofobia, transfobia…- dentro dos territórios indígenas, fora do território indígena, o racismo, o machismo. A gordofobia também. Então, a luta maior que nós estamos passando é sobre as terras demarcadas. Nós queremos a nossa terra demarcada. Aqui no estado do Ceará só há uma terra demarcada uma (1), que é o povo Tremembé de Almofala. E as outras estão tudo em processo de terra demarcada. Daqui do sertão de Crateús, sertão de Inhamuns não tem nenhuma terra demarcada. Então a nossa luta mais difícil é a nossa terra, que infelizmente está acontecendo muita morte, a gente tá perdendo muitas vidas indígenas… Para mim, o mais difícil é a conquista da nossa terra. Mas a gente nunca vai deixar… sempre vamos estar na luta, resistindo!! Porque é como eu sempre digo: cortaram nossos troncos; esqueceram de arrancar as nossas raízes. Quando eu falo que cortaram os nossos troncos, foram os nossos antepassados. E as nossas raízes somos nós que estamos brotando e trazendo esses novos fluxos, esses novos que estão nessa luta.

Foto: Mídia NINJA
Que imagem forte! Que poético! Que encantador: “cortaram nossos troncos, mas não cortaram nossas raízes!”. Neste cenário de muitas lutas e muitas esperanças, partindo do mantra-manifesto constantemente trazido pela também artista e ativista indígena Célia Xakriabá de que “o futuro é ancestral”, quem você deseja que seja a Yakecan do futuro? Em 2030, quais serão os espaços que precisam ser ocupados por você ou pelos seus parentes?
Então, vamos ver aqui… Daqui para 2030, uma coisa que eu quero muito é ver meus povos indígenas tudo bem, nada dessas ameaças que estão acontecendo, que o amor originário, livre, LGBT possam andar na rua, que possam estar sendo felizes. E eu também vejo Yakecan futuramente… não sei… uma grande deputada aí, igual a Célia! (risos) Vixe!! Mas em 2030 eu quero pelo menos ver meus parentes indígenas LGBT ter uma casa de acolhimento, porque é uma luta que eu estou tentando aqui muito mesmo. Que Yakecan seja uma pessoa incrível. Que a sociedade respeite e que ela possa estar sempre lutando pelos povos indígenas, pela luta LGBT indígena, pela luta dos povos tradicionais… E que ela seja sempre iluminada pelos encantados. Que os encantados sempre protejam ela e que ela sempre tenha essa força que ela tem, com essa coragem de lutar sempre. Onde ela estiver, o que ela puder, o que ela correr atras, o que ela estiver alí sempre ajudando os povos indígenas… Não só os povos indígenas, mas todos os povos.. MST – porque a bixa é dessas: está no MST, está no Levante… está em tudo. Que sempre ela tenha essa coragem e que nunca falte nada.
Que maravilha!! São ótimos planos e que se cumpram todos!!! Yakecan, minha irmã da mãe terra nordestina, estamos chegando ao final de nossa entrevista e eu queria, em nome do Kintal de Afetos, do Transpassando e da Planeta Foda/Mídia Ninja, lhe agradecer mais uma vez pela prontidão em aceitar nosso convite para esta entrevista. Para nós é muito significativo e importante ter você abrindo a ocupação deste espaço com a gente! Dito isto, convido você para as últimas considerações: o que é essencial de ser dito e que ainda não dissemos até aqui para quem nos acompanha agora? Fale a nós, querida mulher indígena e sapatão!
Eu queria agradecer a vocês pelo convite. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui falando um pouco sobre a minha vivência, a vivência dos povos originários, a vivência LGBTI… E queria agradecer mesmo de coração. Que momento incrível estar contigo, conterrâneo do Ceará. (Risos) Quem sabe logo logo a gente vai se encontrar… O que eu queria dizer mesmo é… eu vou cantar uma música, para encerrar:
“Na minha aldeia mora uma cabocla
Eu não sei se é homem, se ela é mulher
Na minha aldeia mora uma cabocla
Eu não sei se é homem, se ela é mulher
É uma cabocla índia da pele morena
Mora na aldeia de Campinaré.”
Essa música é uma música que resiste, falando sobre a resistência. E [é dela] que foi tirado o nome Coletivo Caboclas. E fala sobre a resistência até nas músicas da encantaria, dos rituais de toré, a vida dos indígenas LGBT que estão dentro da música também. Obrigada! Katureté!
Confira abaixo a entrevista completa em vídeo: