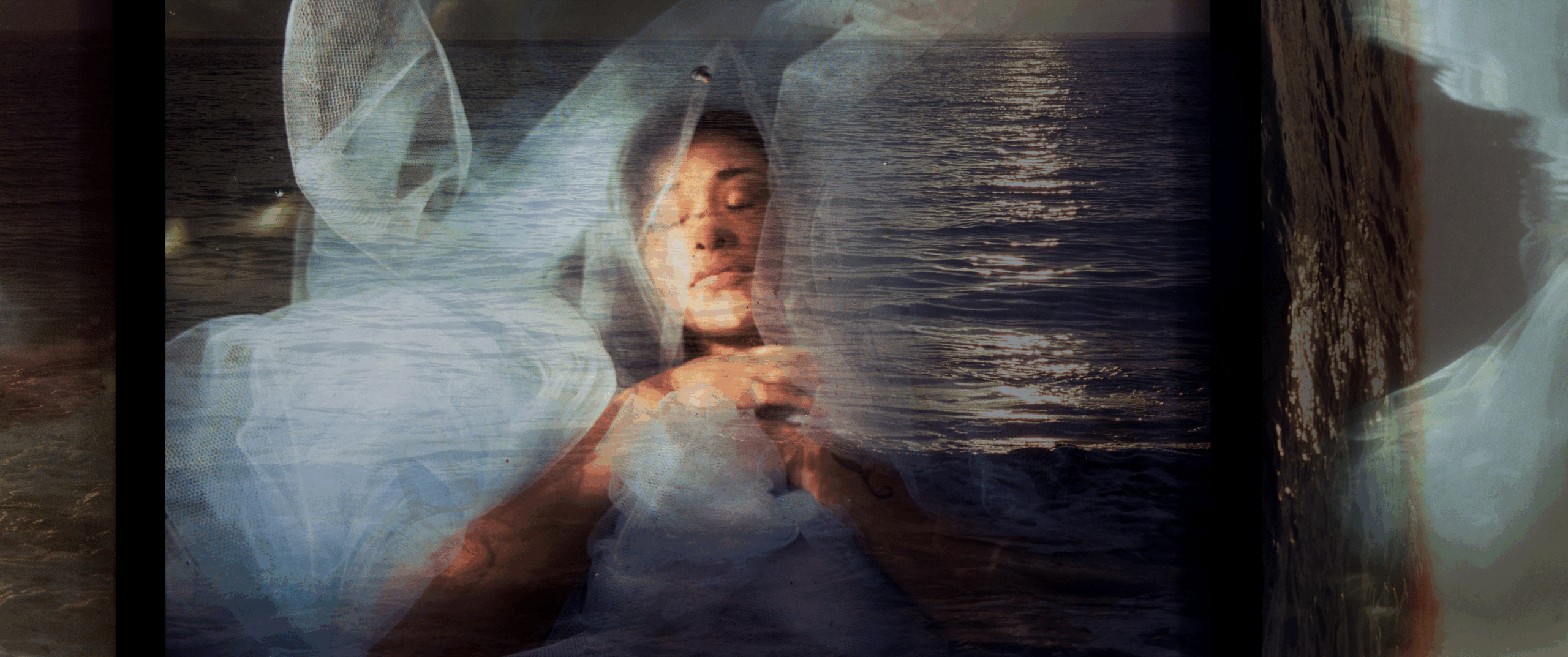Sob as mandíbulas do medo: A pirraça submersa em ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho
Da tensão política às cores e ritmos de Recife, Wagner Moura transforma suspense político em espetáculo
Por Hyader Epaminondas
Assistir ao novo filme de Kleber Mendonça Filho é como abrir uma cápsula do tempo, especialmente imerso no ambiente da Cinemateca Brasileira, guardiã da memória audiovisual do país e sob a colorida sombrinha da 49ª Mostra SP, como se Recife estendesse seu frevo até São Paulo. Como um tubarão mantendo sua fome voraz oculta, o filme se move silenciosamente sob a superfície e se esconde cuidadosamente sobre o que quer ser, como um segredo que se desenha aos poucos, para só então se revelar em um clímax capaz de te devorar vivo. Deixando a sensação de que o perigo estava ali o tempo todo, silencioso e inevitável.
Mas há algo de pirraça nesse gesto: Kleber parece cutucar o público e o próprio sistema cultural brasileiro, brincando com as formas do cinema enquanto denuncia o descuido com nossa história. Sua crítica à importância da preservação da memória nasce, justamente, dessa provocação de um desejo de mostrar que o passado não se apaga, apenas muda de disfarce.
“O Agente Secreto” trata de heranças familiares, políticas e afetivas e deixa isso evidente desde a abertura, com uma retrospectiva pelos anos 70 em fotos estáticas em preto e branco. Kleber filma o Brasil e, mais especificamente, uma Recife que ele vem reconstruindo desde seus primeiros projetos, não como um território geográfico, mas como um corpo, um corpo que provoca, que reage, que carrega cicatrizes que jamais se fecharam.
À primeira vista, o filme se apresenta como uma ficção de espionagem. Há segredos, agentes duplos, disfarces e perseguições. Mas, à medida que a narrativa se desenrola, o que se revela é uma obra sobre memória, apagamento e sobrevivência de exilados, sem qualquer tipo de glamourização, dentro do próprio país, como testemunhas silenciosas de uma nação que os rejeita. Kleber faz do gênero um espelho distorcido da história brasileira: uma maneira de usar o próprio jogo do gênero para expor o absurdo de um país que insiste em esconder o que mais deveria encarar de frente: o trauma coletivo da ditadura.
Cinema em tempos de chumbo
Vejo “O Agente Secreto” como o terceiro capítulo de uma trilogia contemporânea sobre os anos de chumbo. Cada filme aborda um tipo diferente de apagamento, seja político, social ou simbólico, e busca restituir, através do cinema, aquilo que o Estado tentou silenciar. Embora “Homem com H”, de Esmir Filho, também dialogue com esse recorte histórico, é importante destacá-lo como um complemento dessa reflexão sobre a revisitação da história nacional.
Em “Marighella”, de Wagner Moura, o apagamento é de natureza política. O filme ressuscita uma figura sistematicamente demonizada pela história oficial e devolve ao público o corpo e o rosto de um homem que, por décadas, existiu apenas como um nome proibido. Moura reconstrói o mito, empretece sua identidade, mas o faz com a urgência de quem sabe que a luta pela memória é também uma disputa pelo presente. O ressurgimento de “Marighella” em 2019, em meio à ascensão de um novo projeto de autoritarismo, transformou o filme em ato político sobre resistência ao apagamento do pensamento crítico e das vozes insurgentes.
Com “Ainda Estou Aqui”, Walter Salles desloca o foco da arena pública para o apagamento íntimo e social. O filme traduz a ausência em escala doméstica: é o trauma que ecoa nas paredes de uma casa, o desaparecimento que se torna herança, o silêncio como herdeiro da violência. Salles filma a ditadura a partir de um ponto de vista quase invisível, pelo vão da porta da sala de estar, o de uma família de classe média que perde o direito de ser “neutra”. Essa perspectiva expõe a extensão do trauma nacional, mostrando como a ditadura corroeu o tecido social de modo mais profundo do que as narrativas heroicas costumam admitir. A brutalidade institucional se manifesta nas pequenas rachaduras da vida comum, e é nesse intervalo que o diretor encontra o seu cinema da memória.
Já em “O Agente Secreto”, Kleber Mendonça Filho se volta ao apagamento histórico e imagético, construindo um filme sobre a preservação da lembrança através do próprio ato de filmar. Aqui, a ditadura não aparece como passado remoto, mas como espectro persistente, visível nas cicatrizes da cidade, nos registros recuperados, nas vozes que sobrevivem em fitas, mas nunca citada diretamente. Kleber faz de Recife um corpo político e transforma a restauração dos arquivos em resistência material contra o esquecimento. Se Moura reanima o mito e Salles encarna o luto, Kleber resgata o vestígio: ele devolve o olhar àquilo que a repressão tentou apagar, preservando as imagens como forma de luta.
Assim, os três filmes dialogam como partes de uma mesma ferida: o corpo, a casa e o arquivo, três formas de dizer que o Brasil ainda tenta, com muita dificuldade, se lembrar de si mesmo.
O mar como metáfora
A analogia com “Tubarão”, de Steven Spielberg, é uma chave simbólica. A ditadura é o tubarão, um predador que age sob a superfície, invisível, mas sempre presente. O mar é o Brasil inteiro, e suas águas escondem corpos, segredos e ruídos. A cada cena, sentimos que algo se move por baixo, prestes a emergir. Essa tensão é constante e, por isso mesmo, insuportável. Kleber entende que o medo, no Brasil, nunca vem do desconhecido, mas daquilo que todos fingem não ver.
Dentro desse oceano simbólico, a polícia aparece como os novos tubarões. São figuras que patrulham o território com a mesma lógica predatória do regime, agora revestida de legalidade. O filme mostra como a violência estatal sobrevive à própria ditadura, mudando-se, adaptando-se, disfarçando-se em novas formas de controle. A repressão deixa de ser apenas militar e passa a ser cotidiana, policial e institucional. É o monstro que aprendeu a nadar em águas democráticas.
Wagner Moura interpreta três personagens distintos e, ao mesmo tempo, versões de uma mesma ferida: o professor, o refugiado e o pai/filho, três corpos, três consciências fragmentadas, três modos de sobreviver à opressão. O gesto de multiplicar o protagonista reforça a ideia de que o indivíduo, sob um regime de medo, perde a unidade, fragmenta a identidade para sobreviver. Ele é todos e ninguém. Sua identidade é constantemente negociada entre o que pode ser dito e o que deve ser escondido. Moura atua como um espelho quebrado do próprio país.
Mas, como em todo cinema de Kleber, o verdadeiro protagonista é o povo. Os refugiados de Pernambuco, operários, artistas, estudantes, famílias deslocadas, são o coração do filme. São eles que sustentam a narrativa, mesmo quando não falam. O termo “refugiado” ganha um novo significado: não apenas quem foge de um país, mas quem tenta sobreviver dentro dele. São os que vivem em exílio interno, condenados a uma forma de invisibilidade social. Kleber os enquadra com o mesmo respeito com que documenta prédios antigos ou salas de cinema em “Retratos Fantasmas”: como estruturas que resistem ao tempo e à destruição.
Kleber retorna à sua cidade como quem retorna à origem do trauma. Recife é mais do que estética, é política, dentro e fora do enquadramento da câmera, e aqui ele captura o mesmo espaço intermediário do vazio que Kauffman retrata em “Como Fotografar um Fantasma”. O Recife filmado aqui não é o cartão-postal, mas um organismo vivo, complexo, melancólico.
Cada rua guarda rastros de uma história que o país tentou enterrar. Ao escolher o cinema local como espaço narrativo, Kleber transforma o particular em universal. Ele mostra que a ditadura não foi apenas uma abstração em Brasília, mas uma presença concreta que atravessou as casas, os corpos, os sotaques e os medos de quem viveu longe do eixo central do poder.
Visualmente, o filme traduz esse embate entre lembrança e esquecimento. A fotografia alterna o claro e o escuro, a nitidez e o borrão, como se o próprio tempo interferisse na imagem. Há momentos em que o som se sobrepõe ao sentido das gravações, ruídos, fitas antigas, sugerindo que a memória é um espaço de colisão entre o real e o imaginado. O cinema, para Kleber, não é apenas representação: é exumação. É o ato de trazer à superfície o que a história tentou afundar, e aí nos retornamos ao mar sangrento de Spielberg.
E quando o mar finalmente se acalma, o que resta é o silêncio, não o silêncio da paz, mas o silêncio do trauma, denso e insistente, que se prolonga até tocar um desfecho que sugere a lenta e difícil construção de uma cura. “O Agente Secreto” nos lembra que o Brasil nunca parou de ser vigiado. Que os fantasmas da ditadura continuam nadando entre nós, disfarçados de ordem, de progresso, de segurança. Que a violência, aqui, sempre foi institucional antes de ser pessoal.
É como atravessar uma espécie de purgatório histórico, onde a obra de Kleber Mendonça Filho é, no fundo, um ritual de escuta. Um convite para ouvir o que ainda pulsa nas margens. “O Agente Secreto” é sobre o Brasil que tenta se lembrar, e sobre o perigo constante de esquecer.