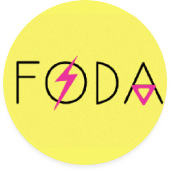Precisamos urgentemente debater educação anti-LGBTfóbica nas escolas
Se nosso objetivo enquanto sociedade é construir um mundo menos intolerante, precisamos atuar de forma estratégica no principal espaço de formação identitária dos nossos jovens
Por Rafael Gonzaga
As escolas têm sido, há muitos anos, espaços de terror para jovens LGBTQIAPN+. E existe uma infinitude de pesquisas que confirmam isso: a Pesquisa Nacional por Amostra da População LGBTI+ (2020), realizada pela organização TODXS, aponta que 7 em cada 10 estudantes LGBTQIAPN+ no Ensino Médio não sentem que a escola seja um ambiente seguro para expor de forma aberta sua orientação sexual ou identidade de gênero. Esse medo se confirma pela a Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil (2016), realizada pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), apontando que 73% dos adolescentes e jovens entrevistados foram agredidos verbalmente na escola em função de sua orientação sexual. Não é à toa que 7 em cada 10 professores acreditam ser necessário debater diversidade sexual e de gênero com alunos, segundo pesquisa da Associação Nova Escola em parceria com a ONG TODXS.
O ponto é: com tantas informações a respeito desse tipo de violência no ambiente escolar, o que exatamente tem sido feito para solucionar isso e garantir cidadania plena e uma passagem psicologicamente saudável pelo sistema de ensino a esses jovens? A resposta: nada significativo ou, pelo menos, muito pouco. O total de escolas públicas com projetos de combate ao racismo, machismo e homofobia caiu ao menor patamar em dez anos, segundo levantamento do Todos Pela Educação divulgado em 2023. Segundo a pesquisa, somente um quarto das escolas públicas têm projetos que visam combater o machismo e a homofobia. Enquanto isso, a comunidade jovem LGBTQIAPN+ tem não só o processo de aprendizado comprometido, mas são empurrados também para a evasão escolar em função da inércia das instituições de ensino – um levantamento feito pela Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil em 2017 mostra que 82% dos adolescentes e jovens transsexuais deixam o Ensino Médio entre os 14 e 18 anos.
Há hoje uma batalha ideológica pela construção do papel da escola no imaginário coletivo. Enquanto a bibliografia séria, feita por inúmeros pesquisadores da área de educação, atribui às instituições de ensino um papel significativo no processo pedagógico de socialização, uma parcela conservadora da sociedade insiste em tratar esses espaços como mero formadores de mão de obra. Ainda que seja na escola que crianças e jovens tenham suas mais expressivas experiências de como lidar com o mundo e seus habitantes, há quem mantenha a defesa do discurso raso e incompatível com a realidade de que o papel da escola é meramente conteudista, e que esses jovens em formação não absorvem nada referente a essas dinâmicas. Negar que a escola impacta aqueles que a habitam para além do que aprendem no sentido acadêmico é uma espécie de negacionismo, no qual se recusa a ideia de que o ser humano aprende muito mais nas escolas do que apenas álgebra e gramática.
Quando alguém nega o papel socializador das escolas e impede que nesses espaços se perpetue um debate qualificado sobre respeito à diversidade, é legitimida a criação de indivíduos despreparados para lidar com essa questão na vida adulta. Pior que isso: há ainda nas escolas um apagamento sistemático de vidas, contextos e dinâmicas LGBTQIAPN+, que resultam na incompreensão coletiva acerca delas (um dos pilares de sustentação do preconceito). As aulas sobre educação sexual, por exemplo, costumeiramente abordam assuntos como órgãos sexuais e o próprio processo do sexo reprodutivo a partir de uma ótica cis-heteronormativa, que prepara alunos cis-heterossexuais para se compreenderem enquanto indivíduos plenos na vida adulta. No entanto, os demais alunos LGBTQIAPN+ enfrentam um grande dilema sobre suas próprias existências, que sequer são mencionadas enquanto possibilidades. A escola, hoje, ao invés de servir ao propósito de formar uma sociedade mais acolhedora para todos, segue sendo um pilar de sustentação da intolerância porque não atualliza em sua grande maioria os seus postulados acadêmicos – muitas vezes por medo de incomodar uma parcela da população que tem “aversão ao progresso”.
Se a sociedade brasileira já entende e reconhece em vias institucionais que homotransfobia é crime (já que desde 2019 o Supremo Tribunal Federal reconhece que a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual se enquadra na Lei n° 7.716/89, a Lei do Racismo), é preciso dar um passo adiante e estabelecer medidas que resolvam esse problema, antes dele chegar às vias de fato; ou seja, à prática LGBTfóbica. E se as escolas são reconhecidamente palco desse tipo de violência, há de se pensar de forma urgente o que tem sido feito de forma errada enquanto sociedade, para que isso se difunda nesse cenário específico. Resolver o preconceito nas escolas através de medidas socioeducativas de debate sobre diversidade sexual torna não só esses espaços finalmente seguros para quem é LGBTQIAPN+, mas também faz com que os futuros espaços que serão frequentados pelos indivíduos ali formados também o sejam. Por mais que possa parecer sã a ideia de que atacar a LGBTfobia nas escolas seja uma das ações mais estratégicas possíveis para diminuir os vergonhosos índices de homotransfobia da sociedade brasileira, resta saber quanto tempo ainda teremos que esperar para ver ações sólidas sendo tomadas nesse sentido.