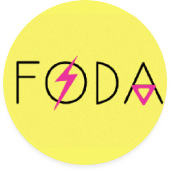Pelo direito de viver com dignidade: Sissy Kelly narra sua trajetória de luta e vida
Aos 67 anos, a travesti Sissy Kelly defende o direito ao envelhecimento LGBTQIAPN+
Por Kaio Phelipe
Aos 67 anos de idade, a ativista social Sissy Kelly dividiu as memórias de suas lutas pelo direito de existir livremente, habitar uma moradia e envelhecer. Por diversas vezes, Sissy Kelly precisou enfrentar o Estado até se tornar a primeira travesti a morar em uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos).
Como foi a resistência durante a ditadura militar?
Para ser sincera, passei o primeiro período da ditadura sem ter consciência do que estava acontecendo. Eu venho de uma família de pequenos agricultores – somos catorze irmãos, eu sou a quinta – e acabava não tendo consciência dos fatos. Vivia a minha realidade e pronto. Mas, quando fiz dezoito anos, fui para Vitória (ES) e lá fiz a transição, em 1974. Também foi quando comecei a ter consciência do que estava se passando. Desde sempre, nós, pessoas travestis e trans, já nascemos com a missão de lutar pela vida e eu acabava não ligando para a ditadura.
Em 1985, quando eu comecei a ficar mais empoderada, fui entendendo aquele momento difícil e tudo o que tinha me acontecido em cidades pequenas por onde eu tinha passado no Espírito Santo, em Minas Gerais e Belo Horizonte. Fui deportada de várias cidades pequenas. Os delegados, quando não gostavam da travesti que trabalhava na boate – nessa época, a gente trabalhava muito em boate –, eles chegavam e deportavam a gente. Levavam a gente para uma estrada e nos obrigava a sair da cidade e procurar outro local.
Depois teve a Operação Tarântula, que matava travestis e prostitutas. Nesse momento, eu consegui entender tudo o que tinha passado e o que ainda estava acontecendo. Graças a Deus, escapei e sobrevivi à ditadura militar. Escapei também da epidemia de aids e da epidemia de hepatite C e estou aqui hoje, institucionalizada, aos sessenta e sete anos. Acredito que eu seja a primeira travesti idosa a estar morando em uma instituição de longa permanência para idosos aqui em Belo Horizonte.
Como foi o processo de integração nessa instituição?
Essa é a segunda vez que venho para cá. Há três anos, eu vim porque o serviço médico constatou que eu não poderia estar morando sozinha, por conta da minha condição de saúde. Eu teria que passar por uma cirurgia e os médicos disseram que só me operariam se eu tivesse alguém que cuidasse de mim. Eu não tinha quem pudesse cuidar de mim na minha casa. Então recorri ao serviço de assistência social e consegui uma vaga aqui. Fiz a cirurgia e vim para cá. Isso foi há três anos, eu ainda estava saudável, com muita vontade de viver a vida, fazer as coisas, estar no ativismo social, participar das rodas de conversa. Então fiquei só dois meses na instituição e saí daquela urgência e necessidade de cuidado integral e fui para a minha casa, onde fiquei mais dois anos. Quando me dei conta que eu não conseguia mais morar sozinha, solicitei uma vaga pela segunda vez e aqui estou.
Faz um ano que estou nessa instituição, graças a Deus. Aqui é muito bom, sou muito bem acolhida, muito bem cuidada. Infelizmente, nesse um ano, passo muito mais tempo internada do que aqui. Eles cuidam de mim, me levam para o hospital, me trazem, cuidam da agenda médica, dos meus medicamentos. Tive muita sorte. Aliás, eu tenho muita sorte. Estou numa cidade onde existe uma rede que me protege. Conheci muita gente em Belo Horizonte e isso me dá uma segurança enorme.
Quando entrou para o ativismo?
Olha, eu acho que a gente já nasce ativista, mas fui ter consciência que precisava militar e ser uma ativista pelos meus direitos quando contraí hiv. Mais uma vez, me vi lutando pelos meus direitos ao medicamento, ao tratamento e ao espaço. Tive que lutar para superar as diferenças e as indiferenças. Então foi em 1986 que eu acordei para a luta, mas só comecei a militar mesmo quando voltei da Europa, em 1991. Chegando ao Brasil, procurei a RNP (Rede Nacional de Pessoas Vivendo com Hiv e Aids), me filiei a essa rede e passei a frequentar o GAPA (Grupo de Apoio à Prevenção à Aids). Lá, a gente tinha grupo de apoio, bate-papo, atendimento psicológico. Lá, eu me tornei uma ativista, fui capacitada e trabalhei como agente de saúde e cidadania de Belo Horizonte. Também fiquei muito tempo no centro-oeste, como representante da RNP e morando no Distrito Federal.
Qual é a principal diferença entre o Brasil e os países europeus?
Quando fui para a Europa, não era tão fácil viver lá. Hoje, vejo uma possibilidade maior para as minhas companheiras mais jovens, elas têm muito mais possibilidades do que eu tive para entrar em outro país. Eu sofria muito para chegar nas fronteiras, a gente tinha que planejar muito. A gente sempre ia para Lisboa e de Lisboa ia para a Espanha, da Espanha ia para a França, da França ia para a Itália, sempre era esse trampolim. Eu cheguei a ir de Lisboa para Barcelona, de Barcelona fui para Andorra e de Andorra entrei na França. A diferença de lá para cá é enorme. Essas trocas de experiências e culturas são sempre maravilhosas. A transfobia existe em todos os locais, mas o europeu consegue demonstrar menos. O brasileiro está há muitos anos atrás. A gente assusta muito a sociedade brasileira, o que não acontece tanto na Europa. A gente tem casos de pessoas trans e travestis que moraram em Lisboa e foram mortas e tiveram mortes violentas. A Maria Bethânia até gravou uma música sobre uma travesti que foi assassinada e jogada no poço. A violência continua e atravessa as fronteiras, mas, no dia a dia, é mais leve viver na Europa. Quando você está em um país que não é o seu, que ninguém está te vendo, nem a sua família, nem os amigos, você tem mais liberdade de expressão. Outra coisa é o dinheiro. Lá, a gente ganha mais. Foi muito válido ter ido para lá, eu voltaria, viveria lá de novo. Apesar de não ter sabido lidar com essa oportunidade, já que não guardei dinheiro, o que aprendi está comigo. Qualquer troca que acontece em um intercâmbio é válida. Nós, mulheres trans e travestis, temos que aproveitar isso. A gente espera que um dia a nossa população brasileira venha a se assustar menos com os nossos corpos.
As condições do mercado de trabalho melhoraram desde a época da ditadura?
Na época da ditadura, nós não tínhamos a oportunidade de estudar. Bom, a primeira dívida que o país tem com a gente é em relação a família. Não foi o meu caso, mas a primeira pessoa a nos abandonar vem da nossa família. A família exclui e quando o jovem não tem esse apoio, onde ele vai encontrar? Se a gente vai para a igreja, também vamos ser excluídas. O que nos resta é a rua, onde a polícia, que deveria nos proteger, nos espanca. Aí somos tratadas como doentes mentais. O Estado tem uma dívida muito grande com a gente, que precisa ser reparada. As mortes que aconteceram na Operação Tarântula, o abandono hospitalar durante a epidemia de aids, quando nós éramos tratadas como difusoras do vírus. Nosso corpo não é um veículo de transmissão. O HIV é um vírus e, sendo assim, todo ser humano está sujeito a contrair. O Estado nunca nos tratou como humanas. O Estado nos colocou à margem da sociedade, no papel de servir aos seus homens que, muitas vezes, nos matam. Os mesmos homens que ficam com a gente são os que nos matam. Os policiais que nos espancam são os mesmos que vão atrás da gente nas esquinas. O Estado nos reserva a prostituição, onde temos condições precárias de trabalho e onde estamos sujeitas à morte. É preciso amparar esses erros. Há algumas parlamentares, como a Erika Hilton, que fazem um papel brilhante, mas há muitos políticos que não fazem nada por nós e essas dívidas precisam ser reparadas com urgência.
A senhora passou pelo sistema carcerário durante a ditadura?
Eu era presa, mas nunca cheguei a ir para uma penitenciária. Tenho um primo que me passava muitos conhecimentos. Ele me visitava e um dia me falou “para você não ir presa, você terá que pagar o INSS, para provar que não é uma pessoa vadia, que você está na rua por diversão”. Aí ele me ajudou a abrir um pequeno salão de beleza onde eu morava, eu alugava uma quitinete, e abri um salão sem saber fazer nada como profissional. Me registrei no sindicato dos cabeleireiros e comecei a pagar os impostos e o INSS. Então eu ia presa, mas não para a penitenciária. Nunca assinei uma Lei da Vadiagem, mas centenas de outras companheiras não tiveram a mesma sorte. Era o seguinte: a gente assinava uma Vadiagem, assinava duas e, na terceira, a gente ficava três meses na penitenciária. Eles cortavam o cabelo das mulheres trans e travestis. Graças a esse primo, por mais difícil que tenha sido a convivência com a minha família, a espiritualidade maior – sou uma pessoa muito espiritualizada – preparou a minha família para me acolher. Se não, teria sido muito pior. Sempre tinha alguém da família para me amparar. Minha família sempre foi o meu porto seguro.
Como foi ter passado por internações psiquiátricas?
A primeira vez que fui internada foi pelos meus familiares. Eu tinha uma depressão profunda. Eu não sabia amar, era uma pessoa fria. Não sentia o meu corpo, não me sentia pertencente. Me sentia muito só no mundo e comecei a me cortar com gilete. Me internaram no hospital psiquiátrico Galba Veloso (BH). Essa depressão me perseguia e muitas vezes eu preferia ir para o Galba Veloso do que ficar junto com a minha família. Eu me sentia fora do contexto familiar e só fui me encontrar como ser humano, como pessoa, quando descobri que sou uma mulher. Nunca fui gay e acho que não tive transição. Nasci travesti.
Esses hospitais eram também colônias, onde as famílias levavam as pessoas não desejadas no seio familiar. Em um hospital psiquiátrico aqui de BH, chamado Clínica Pinel, aprendi muita coisa, convivi com lésbicas e travestis que eram assassinas. Foi o lugar onde tomei mais choque frontal, choque elétrico. É uma coisa horrível, não desejo nem para o meu pior inimigo. Depois os médicos tiveram consciência que eu estava no lugar errado e que não merecia aquela clínica, que eu precisava de acolhimento. Acho que foi isso que reduziu os choques. Outros internos me ensinaram a não usar os medicamentos, a deixar os comprimidos escondidos na boca e depois jogar fora. Aprendi também a usar aqueles comprimidos amassados no cigarro como droga. Aprendi a amar e a considerar as pessoas que estavam lá. De lá, saí pronta para fazer a transição. Voltei para Aimorés (MG), a cidade da minha família, e naquela época, os filhos não tinham liberdade para sair da casa dos pais antes de completarem dezoito anos. Mas eu fui me alistar no serviço militar. A gente se alistava quando tinha dezessete anos e meio. Quando eu me alistei, peguei meu certificado de reservista e fui para Vitória, no Espírito Santo, onde conheci pessoas trans e comecei a trabalhar como faxineira, cozinheira, com trabalho análogo à escravidão.
Quando eu estava na Clínica Pinel, eu ouvia muito falar de Barbacena. Os meus amigos internos falavam “você tem que jogar esse medicamento fora para os médicos verem que você não precisa ir para Barbacena, se não você vai parar lá e, se você for para lá, nunca mais vai sair”. Só tomei consciência da gravidade que acontecia em Barbacena depois de adulta, escutando as pessoas falar sobre o que ficou conhecido como holocausto brasileiro, um episódio que não pode ser repetido na história. Se eu tivesse ido para lá, não estaria aqui hoje. Lembrar de Barbacena é muito importante para pensar o que fizeram com pessoas que não eram desejadas, pessoas com deficiências, autistas, travestis, gays, lésbicas…
A longo prazo, quais são as consequências do silicone industrial?
O silicone industrial pode ser chamado de “câncer das mulheres travestis e trans”. Quando a gente aplica silicone industrial, a gente tem um risco de morrer imediatamente. Isso tem ocorrido e não é divulgado, não é comentado. Se você não morrer imediatamente, depois de alguns anos começam as complicações, as inflamações. Acredito que isso seja um câncer para mulheres travestis e trans, mas muita gente cis também faz uso do silicone industrial. A gente tem uma epidemia que não é divulgada. Muitas pessoas trans estão morrendo à míngua pelo silicone industrial. É uma situação que os médicos ainda não entendem, não estão interessados em estudar, não querem aprender, negam atendimento. Aqui em Belo Horizonte, só fui atendida graças à rede que construí e me conhece e por eu usar hospitais de referência, os hospitais Júlia Kubitschek e Eduardo de Menezes. Eu acho que nós vamos ter muitas pessoas travestis e trans ainda jovens, com futuros brilhantes pela frente, mas que ficaram deformadas e vão ter que passar o resto da vida lutando para sobreviver por causa do silicone industrial. É uma questão de saúde pública, de informação. É urgente que se debata mais sobre isso, é urgente que surjam mais médico interessados nesse assunto, é urgente que não nos condenem.
Quando vamos a um cirurgião, eles dizem “vai na pessoa que colocou isso em você”, estou cansada de ouvir isso. Mas eu amo tanto a vida, que procuro esquecer isso e insisto e exijo ser tratada. Tem dado certo. Faz cinco anos que tenho várias infecções e já passei por três cirurgias. Essa última foi muito agressiva. Aqui na instituição, a enfermeira cuida da cirurgia e o núcleo de curativos do hospital também, quando volto para alguma internação. A penúltima cirurgia levou oito meses para cicatrizar. Essa última foi bem maior e já estou com oitenta por cento dela cicatrizada. A gente está fazendo curativo de três em três dias. Tenho tido sorte, é muito gratificante. Ninguém dava nada por mim. Até os médicos achavam que eu não iria escapar, que eu iria morrer, que a ferida ia virar crônica, reinfectar. Deus sabe de todas as coisas. Toda vez que sou internada, cuido muito do meu pulmão também, além da ferida. Os antibióticos que uso nas internações também tratam a ferida. A gente vai vivendo e aprendendo as coisas, que talvez nem a medicina capta, mas o paciente consegue assimilar o que está acontecendo. Quem sou eu para condenar as bombadeiras e quem resolve colocar? O silicone industrial me trouxe muita felicidade, me deu o corpo que eu desejava. Muitas pessoas cis falam que nós, travestis e trans, nascemos no corpo errado. Mas nós não nascemos no corpo errado. A gente nasce no corpo certo e temos possibilidades de fazer modificações corporais. O silicone industrial é uma tentativa de se encaixar no corpo certo que as pessoas cis dizem que a gente não tem. A falta de informação exigia um corpo da gente. Até mesmo para usar como meio de negócio para ganhar dinheiro. Hoje não precisa mais ser assim. Não condeno as bombadeiras daquele tempo, elas também não tinham conhecimento do mal que estavam fazendo. Ou tinham, já que muitas de nós morríamos nas mãos delas. Mas a questão não é julgar. É conscientizar a população jovem dos riscos que estão correndo ao fazer o uso.
A senhora sentiu medo em alguma dessas experiências?
O maior susto que tive na minha vida foi quando recebi o diagnóstico de HIV. Eu pensei “pronto, estou destinada à morte. A minha sentença foi dada”. E, naquela época, não se discutia sobre isso. A gente não tinha esperança. Os médicos diziam “você vai viver quatro ou cinco anos”. Eu pensava “meu Deus, quatro ou cinco anos é muito pouco, estou tão jovem, trinta e dois anos”. Foi quando eu tive que desconstruir muita coisa para reconstruir tudo de novo. Eu estava prestes a ganhar a cidadania em Portugal e eu não quis mais. Vim para o Brasil morrer perto da minha família. Quando cheguei aqui, fui aprendendo a lidar com a situação e a perder o medo do HIV. Conheci muitas casas de apoio que me acolheram. Na época, a gente comprava um quilo de arroz de manhã por um preço e, à tarde, o valor já tinha aumentado. Era impossível pagar a prestação do meu apartamento e me alimentar. Tive que vender o apartamento e caí no fundo do poço. Eu tinha uma vida estável, tinha uma caderneta de poupança, que foi sequestrada pelo Governo Collor. Fiquei sem casa, sem saúde, me vi no fundo do poço. Quem me levantou foram as casas de apoio que existiam para acolher pessoas vivendo com HIV ou AIDS. Dentro dessas casas de apoio e da RNP, aprendi a lutar pela vida. Tive uma grande militância pelos direitos das pessoas vivendo com HIV ou AIDS e lutei muito por moradia. Também fui uma das primeiras pessoas travestis a morar em um abrigo feminino. Trabalhei durante muitos anos com a população em situação de rua de Belo Horizonte. As pessoas gostam de lutar por causas que dão ibope, mas eu sempre lutei por causas invisíveis.
Como foi a luta por moradia?
Em Lisboa, eu estive em situação de rua. Voltando para o Brasil, nas minhas andanças, nem sempre tinha dinheiro para pagar uma estadia e nem sempre eu queria ir para abrigo porque os abrigos que aceitavam travestis eram abrigos masculinos. Então eu ficava em situação de rua. Aqui em Belo Horizonte, também tive uma passagem pelas ruas, mas depois consegui ir para um abrigo feminino, onde fiquei um ano e meio. Depois, entrei para a política de acolhimento institucional para idosos, que é o asilo. Não quis ir para o asilo quando entrei nessa política. Daí surgiu a oportunidade de conhecer o movimento que luta por moradia. Conheci uma ocupação que tinha surgido naquele momento, em um prédio muito chique, na avenida mais importante de BH, que é a Avenida Afonso Pena. Fui lá e fiquei com eles, fui acolhida. De lá, a gente fez a negociação com o governo de Minas, que era do Fernando Pimentel. A gente saiu do prédio e fomos morar no centro de BH, em um antigo hotel chamado Plaza Internacional. A ocupação se chamava Carolina Maria de Jesus. A nossa luta foi muito boa. Aprendi muito lutando por moradia, mas foi lá também que decidi vir para essa instituição, para o asilo. Eu não aguentava mais e o serviço de saúde também não deixaria eu morar sozinha. Sempre tive esperança de voltar para casa, mas teve um momento que eu constatei que não seria mais possível.
Como tem sido o processo de envelhecer?
Eu acho que nascer é uma possibilidade e envelhecer é um privilégio. A gente tem um processo de envelhecimento. A gente está transicionando sempre, uma constante transição. Para a população geral, envelhecer não é fácil. A gente perde muita musculatura, audição, cabelo. Para nós, mulheres travestis e trans, a gente vive em uma constante solidão. Na velhice, isso aumenta. Não existe um movimento que nos dê as mãos. A velhice LGBTQIAP+ é extremamente diferente da velhice cis e heterossexual. Nós perdemos o direito da identidade, a nossa história é apagada, perdemos o direito de falar da nossa história, nos retiram esse espaço. É preciso criar centros de referência para pessoas LGBTQIAP+ idosas. Em São Paulo, tem o EternamenteSOU. Parafraseando Cazuza, a gente vive da caridade dos que nos detestam.