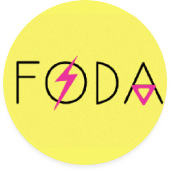Paulo Anacé: Uma liderança indígena na disputa por direitos
O direito à vida digna impulsiona Paulo Anacé a lutar em múltiplas frentes, mesmo sob ameaças
Por Kaio Phelipe
“Filho do grande Rio Amazonas e da mãe cobra” é o significado de Monai M’boi Ra Kauype Anacé, nome índigena de Paulo Anacé, ativista pelos direitos humanos e da natureza.
Paulo possui uma trajetória marcada por lutas e conquistas que reverberam nas comunidades indígenas e no ativismo ambiental. Filho de uma linhagem que carrega em seu cerne a força e a resistência do povo Jaguaribara Anacé, ele une a sabedoria ancestral com uma determinação moderna, enfrentando desafios sociais e ambientais desde a juventude.
Nascido em Fortaleza e criado por sua avó indígena após a perda precoce de sua mãe, Paulo sempre esteve imerso nas histórias e memórias que moldaram sua identidade e sua missão. Sua luta começou com questões ambientais e contra preconceitos diversos, se intensificando quando passou a defender o território Anacé contra o avanço do Complexo Industrial do Pecém, uma batalha que moldou sua jornada como líder.
Em entrevista exclusiva ao FODA, Paulo compartilha suas experiências desde o início do ativismo, abordando desde a luta pela preservação de recursos naturais, como a água do Cauípe, até as ameaças que enfrentou devido à sua postura firme contra interesses econômicos e políticos. Ele também nos fala sobre a importância da educação indígena e como conseguiu o reconhecimento oficial da escola de sua comunidade, um marco na preservação e valorização da cultura Anacé.
Paulo também conta sobre a guerra pelas águas do Cauípe, a candidatura política com o PSOL, o movimento LGBTQIAP+, a história de seus ancestrais e as consequências da sua inesgotável luta. Confira abaixo a entrevista completa:
Quando entrou para o ativismo?
Muita gente estranha o fato de eu ser indígena e ter um sobrenome que não é tão comum entre os povos originários. Meu sobrenome é França por parte do meu avô, descendente de franceses, mas minha avó, que nasceu em 1920, era indígena do povo Jaguaribara Anacé e a sua família vivia na região do Pecém – onde é o nosso território –, mas depois foram para as serras no Ceará e, depois, para Fortaleza, onde eu nasci. A minha luta vem muito com a história da minha avó e das lembranças que ela me contava. Eu perdi minha mãe quando tinha três anos de idade e minha avó acabou me criando. Na minha juventude, eu lutava muito por alguns ideais, pela questão do meio ambiente e contra todos os preconceitos. Eu já sabia que fazia parte da comunidade LGBTQIAP+, mas ainda precisava me entender, me aceitar e dizer para o resto da sociedade, mas isso tudo leva um tempo, até porque o fato de ser indígena e gay, me faz sofrer preconceito duas vezes. A luta começou como uma coisa pessoal e também participei de grêmios estudantis. Depois, na fase adulta, comecei a lutar por outras causas, pela água, pelo território, pelo planeta. Luto pelo meio ambiente há quase trinta anos, comecei quando eu tinha vinte e cinco ou vinte e seis anos de idade.
As lutas foram ficando mais fortes, quando retornei ao território, quando fui buscar a minha história e a história da minha família. Foi quando comecei a entender que tudo tem uma ligação e a minha luta não era somente contra o preconceito, mas que tudo isso vem de algo maior. Se eu não tenho um planeta, se eu não tenho uma terra, como vou lutar por outras causas? Então resolvi entrar nessa batalha. O ápice da minha luta se deu quando eu tinha quase trinta anos, quando o Complexo Industrial do Pecém entrou no nosso território, na década de noventa, e nos arrancou de lá e violentou nossas pessoas, não só mentalmente, mas também fisicamente. Com isso, a minha luta se amplificou e eu comecei a colocar o meu corpo e a minha história diante desses obstáculos.
Nos anos 2000, comecei a lutar cara a cara contra o Complexo e contra o Estado e como é o Paulo Anacé, um cara baixinho, de 1,68m, que não tem nenhum poder, ir para cima de um batalhão de choque? A partir daí entendi que eu precisava dar o grito que meus ancestrais falavam. Quando o Estado falou que a água dos nossos rios iriam para o Complexo, eu bati o pé e disse que não. Foi a partir daí que entendi a minha importância enquanto liderança indígena: cuidar dessa água, dessa terra, desse meio ambiente. O que quero dizer é que a luta começou quando ela deixou de ser importante só para mim e passou a ter a possibilidade de mudar a vida de muita gente.

Recentemente, tive uma das maiores felicidades. A nossa escola foi reconhecida, de fato, como uma escola. Já tentaram derrubá-la, mas nós fizemos o que chamamos de retomada, entramos lá e não deixamos. Disseram que a gente não podia, mas conseguimos provar que é possível ter uma escola indígena e uma educação que não manipule as pessoas. Todos os nossos professores são indígenas, todos são formados, alguns possuem mestrado e doutorado. No início, eram quatro salas de aula construídas décadas atrás e eram de cinco a dez alunos por sala. Tínhamos, mais ou menos, quarenta alunos e o espaço físico era muito pequeno. Antes de ser uma escola, a gente chamava de Espaço Indígena Anacé Joaquim da Rocha Franco, porque o Joaquim foi um parente, também Anacé, que deu o dinheiro e a terra para a construção do espaço e aí a gente homenageou ele com esse nome. No início, a gente não tinha cadeira, não tinha comida, não tinha nada. A gente pedia aos parentes para pescarem para alimentar os curumins. Hoje, nós temos de duzentos a trezentos alunos. Antes, eram três professores e hoje são mais de vinte. Começou como anexo de uma escola, mas, recentemente, no dia 7 de maio, o governador resolveu assinar para dizer que nós não somos mais anexo de nada. Somos uma escola totalmente reconhecida. Por eu ser educador, já me convidaram para ser diretor, mas a minha felicidade é saber que muita gente acreditou quando eu disse que não era para derrubar o nosso espaço. Todo um povo acreditou.
Como aconteceu a briga pela água do Cauípe?
Eu tive uma luta muito grande contra a prefeitura. Briguei com muita gente. Eles resolveram que a Lagoa do Cauípe, onde acontece um campeonato internacional de kitesurf, e o campeão mundial é cearense, o Mario Bebê, e ele é Anacé. Nisso, o prefeito, que era um apresentador de TV, resolveu cavar a lagoa, disse que a lagoa estava muito rasa e que iria aprofundar. Se não me engano, ela tinha dois ou três metros de profundidade e ele resolveu que passaria a ter cinco ou seis metros. Nós falamos que não daria certo, ele destruiu várias áreas de restinga, matou vários animais. E o que aconteceu? A própria terra derrubou a barragem que ele fez, rompeu a lagoa e a água secou.
A gente tinha levado até ambientalista para dizer que não daria certo, mas eles levaram gente da Europa para concordar com o que estavam fazendo. A gente subiu nos tratores, falou que eles estavam errados, coisa e tal. Resumindo: a prefeitura ficou contra mim e depois foram obrigados a reconstruir tudo, como o natural. Mas claro que não vai ficar a mesma coisa. Foi preciso a natureza mostrar para ele porque não bastou a gente falar. Quem acaba sofrendo sempre são os que estão mais na ponta. A própria natureza pediu o seu espaço. Eu falo muito do Cauípe e por isso sou ameaçado de morte. Já fui ameaçado duas vezes e vivo em um programa de proteção.
Agora, no Ceará, tem o projeto hidrogênio verde e eu bato o pé mais uma vez. De onde vão tirar água do estado que menos tem água? O Ceará vive no semiárido e o governador fala um monte de coisa. Levar termelétrica, que não existe mais nem na Europa, à base de carvão, que é super poluente. Tantas vezes mostrei o carvão que chegava na minha casa, coloquei até nos jornais. Eu moro a dezoito quilômetros de uma siderúrgica e eles disseram que o carvão não chegaria nem a cinco quilômetros. Como que chegou na minha casa? Enquanto os governos capitalistas não entenderem que a gente precisa acabar com essas empresas, a gente vai se destruir cada vez mais. Quando uma prancha de kitesurf entra no Cauípe, apesar de ser um esporte, muitos peixes mudam de caminho. Imagine o que faz uma torre com metros e metros de altura.
Agora tem um projeto offshore. Energia eólica dentro do mar no Ceará. Nós temos energia eólica nas dunas, que mexe com os pássaros e acaba envolvendo tudo, interrompe a continuidade das nossas matas, que deixam de existir. Esse é o suposto progresso que tanto falam? Mas que progresso é esse que destrói tudo? Que progresso é esse que não dá para conviver com as pessoas? Que progresso é esse que não pode cultivar a natureza? No Cauípe, nós temos trinta metros da sua margem que não podemos fazer nada, não podemos plantar nem construir nada, porque é preciso preservar. Isso porque dizem que somos bárbaros e ignorantes. Se eu começar a derrubar mata e fazer construções, cada vez mais os rios vão subir. A minha luta pela água foi terrível. Começou comigo subindo em canos com a ajuda, primeiro, de algumas mulheres e os homens somaram-se depois. Em 2016, depois de vários anos lutando por poços de água no Ceará, porque as pessoas não tinham água em suas casas e aldeias, eram quarenta poços, vem o Estado e diz que só vai me dar os poços se eu entregar a água do Cauípe. Eu falei que não daria porque o Cauípe não é mercadoria, não é moeda de troca. Eu sempre expliquei ao povo o motivo do carvão mineral atacar. Na aldeia, nós não tínhamos câncer, mas o pó do carvão chegou em nossas casas. Nós não tínhamos problemas respiratórios. As águas estão diminuindo. Os peixes estão mudando. As frutas estão mudando. Aí vem os governadores e falam que os indígenas são burros, mas nós não somos burros.

Na briga pela água, a gente conseguiu fechar uma rodovia. Essa luta resolveu muita coisa. Dos quarenta poços que estavam em disputa, nós conseguimos trinta e oito. Depois, a gente conseguiu água para as escolas, para as comunidades. Em 2017, fechamos a Rodovia 085 e convidamos vários povos. Começamos a pensar qual era a melhor maneira de mexer com o branco, com o capital. A ideia que decidimos foi fechar a rodovia e ninguém conseguir ir para o Pecém, fechamos todas as suas entradas. O complexo ficou fechado durante um dia inteiro, passou nos jornais e tudo. As manchetes eram: a guerra pela água.
O que aconteceu durante a sua candidatura política?
A candidatura começou a ser pensada em 2021. Em 2020, já se falava da possibilidade de eu ser candidato, mas eu mesmo não tinha essa vontade. Continuava lutando sempre, mas sem a pretensão de me candidatar. Nunca tive vontade de ser político. Da época em que eu era mais jovem, eu lembro muito do Mário Juruna, o primeiro deputado federal indígena do país. Ele era uma referência. O Ailton Krenak também é uma referência. Nunca esqueço do discurso dele na Assembleia Constituinte. Antes de me candidatar, me encontrei com a Sônia Guajajara e com Célia Xakriabá para dialogar sobre essa ideia. Quando me filiei ao PSOL, tive muita influência do Renato Roseno, que não é indígena, ele é um ambientalista e grande amigo meu, presidente do setor de direitos humanos da Assembleia Legislativa do Ceará e faz parte do programa de proteção do qual eu também sou protegido. Quando eu falava “Renato, eu não vou deixar a polícia entrar na aldeia”, ele estava comigo e isso, para mim, é política, é a política que eu acredito: estar junto com as pessoas.
A Sônia falou que eu poderia me decepcionar, mas o meu medo maior era: como vou me candidatar pela primeira vez e logo de cara concorrer ao senado? Bem, eu não larguei a candidatura, como muita gente acredita que foi. Eu fui até a última instância. Fui até para a justiça e lutei contra o próprio partido. Fui forçado a desistir da minha candidatura. O que me falaram foi: ou você desiste da sua candidatura agora, já que ela vai ser anulada, ou parte para outro cargo político. Eu entrei em uma ação junto ao PSOL nacional, que aceitou a minha candidatura para o senado, mas o PSOL local disse que eu não poderia, porque iam fazer uma coligação. De acordo com a lei eleitoral, uma coligação não pode ter dois candidatos ao senado. Eu me reuni com todas as pessoas que estavam construindo essa ideia comigo.

A minha candidatura não era só indígena, também era LGBTQIAP+, o movimento negro estava comigo, o movimento cigano, os trabalhadores. Mexeu muito com o meu emocional. Muitas coisas acontecem nos bastidores e ninguém fica sabendo. Sofri violências que jamais imaginaria. Teve gente falando que me faço de coitado porque sou indígena e LGBTQIAP+. Foram muitas violências, que mexeram muito com a minha cabeça. A política acaba sendo sobre aceitar coisas que não tem a ver com a nossa própria história e eu não gosto disso. São coisas como: apoiar um político que vai ajudar algum parente que eu gosto, mas que vai tirar a água do rio e do meu povo. Não é assim que eu penso. Isso me desmotivou muito. Hoje eu tenho amigos políticos, mas quero ficar mais por trás. Daqui a uns anos, quem sabe eu volte.
Como aconteceram as ameaças de morte?
Até hoje, duas ameaças são investigadas. Foram ameaças muito bem planejadas. O território Anacé, onde eu morava, envolve muitas questões de especulação imobiliária, do Complexo Industrial do Pecém, de recursos minerais, da própria água etc. As ameaças podem ter vindo de diversos lugares. Eu, como liderança, já havia sofrido outras ameaças, mas que sempre me pareceram distantes. Para ilustrar: uma vez, estava havendo assaltos na aldeia e não tinha polícia. Não estava tendo policiamento, até por a gente ser indígena… até para eu ser preso, por exemplo, não posso ser preso nem pela Polícia Civil nem pela Polícia Militar. Eu teria que ser preso pela Polícia Federal. Antigamente, desde os anos oitenta, tem a questão da tutela. Nós éramos tutelados, não tínhamos direito nem à fala. Depois da Constituição, tivemos o direito à fala, mas as nossas terras são da União. Então nosso povo acaba se tornando parte dessa terra e nós só podemos ser julgados ou condenados ou presos pela Polícia Federal. Os outros policiais podem entrar na aldeia, mas as lideranças precisam estar sabendo. Quando estava tendo os assaltos, eu reclamei, chamei a imprensa e expliquei tudo. Aí não apareceu só uma viatura, apareceram dez e ficaram andando de comboio, para baixo e para cima, na aldeia. Levaram até o chefe de comando da polícia. Depois, no mesmo dia, a imprensa me procurou e disse para eu ter cuidado e que pediram para me perguntar se eu tinha plano funerário. A polícia mandou perguntar. Além disso, tem o negócio do empreendimento imobiliário.
São muitas as possibilidades das ameaças e elas podem ter várias origens, que vão da especulação imobiliária até questões ideológicas. Um dia eu estava saindo da associação e indo para casa – a minha casa é em uma aldeia e não tem vizinho colado. Era em torno de meio dia, uma hora da tarde e ouvi um buzinar no portão e fui abrir para ver o que era. Quando eu abro, eram dois homens encapuzados, vestindo balaclava. Eu passei algum tempo em pânico por conta dessa situação, que aconteceu em 2018. Eles entraram na minha casa, me empurraram e me jogaram no chão. Um falava e o outro ficava calado. Um puxou a arma e o outro a colocou na minha cabeça. Fiquei calado, sem reação. Eles usavam balaclava, óculos escuros, blusa, calça e bota, estavam totalmente cobertos. Eles disseram “a gente veio aqui para te dar um aviso, você sabe demais, as pessoas que mandaram a gente aqui falaram que você sabe demais, que você tem que sair daqui, a gente sabe que você tem filho, do seu companheiro e se você não sair daqui, a gente vai voltar”. Falaram isso apontando a arma para a minha cabeça. Durou minutos, mas parece que foi uma eternidade. Eles estavam de moto e sem placa. Minha casa é no mato e o vizinho mais próximo fica a uma certa distância. Antes desses dois caras saírem, eles disseram “se você se levantar, a gente volta e dá um tiro na sua cabeça”. Eu ainda permaneci um tempo sentado. A partir daí, começou uma história, a OAB entrou em contato, o caso foi para assembleia, para a ONU, me tiraram do meu território, me levaram para o Sul do país, fiquei pulando de um estado para outro, saí do Brasil, fui para a Argentina e vivi assim durante dois anos. Eu acho que quem me ameaçou pensou que eu não voltaria mais, mas em 2020 eu voltei. Apesar que, mesmo à distância, eu continuava lutando.
Em 2020, voltei e comecei a brigar não só pela água, mas também pela questão do urânio. Foi descoberto, na década de setenta, uma das maiores minas de urânio do mundo, e esse urânio é muito querido pelo Irã e pela China. Eu ia para muitas audiências falar sobre isso. Em uma das situações, a gente levou uma garrafa de água da região da mina e pediu para eles beberem e eles não quiseram beber. Foi um alvoroço. Tem a questão do urânio, das termelétricas, do hidrogênio verde e muitos outros pontos que envolvem a água. E também foi quando eu tive a minha candidatura política, que teve a questão do veto. Quando passou a eleição, eu voltei para a luta e, nesse retorno, já recebia algumas ameaças por telefone, anônimas, que ninguém conseguiu rastrear. Eu digo que o programa de proteção é bom entre aspas, porque é o Estado que está me protegendo, mas eu estou brigando é contra o Estado. Eles perguntam se eu quero polícia rodeando a minha casa, mas por qual motivo eu iria querer isso?
Eu me candidatei em 2022 e, em dezembro desse mesmo ano, eu estava indo para a escola. Eu já não andava mais só, sempre tinha alguém comigo. Nesse dia, aconteceu um imprevisto e ninguém me acompanhou. Eu peguei o carro e fui sozinho. Não imaginava que estava me observando. No caminho, na estrada em uma parte que não tem nada, uma moto se jogou na frente do carro com dois caras, vestidos da mesma forma de quando invadiram a minha casa. Um deles falou “a gente vai repetir tudo o que já foi falado, se você não sair daqui, a gente vai te matar”. Eles sabem de tudo o que eu faço, já fui hackeado, já tentaram me dar golpes. Quando aconteceu essa segunda ameaça, foi muito pesado, me fez reviver tudo outra vez. Passei por um momento de saúde mental muito difícil. Em março de 2023, eu participei de um seminário de direitos humanos, onde fui homenageado, inclusive tem um livro, que conta um pouco da minha história e do qual sou coautor, que é o Vigia, povo! – Um guia de vigilância popular em saúde, editado pela Fiocruz, mas eu não consegui nem ver os livros em mãos porque tive que sair do território de novo. Fui para um fórum em São Paulo, onde pedi ajuda. Tive que largar tudo, fui só com a mochila, nem roupa tinha comigo e até para trabalhar foi muito difícil. Eu venho sendo acompanhado por movimentos sociais e pelo programa de proteção. A gente tem trabalhado o meu retorno ao Ceará. Para a gente, é muito difícil não estar no território. Eu me sinto muito vazio estando distante. É complicado lutar por um território e não poder estar nele.
Como foi o processo de se tornar pai?
Eu tenho dois filhos, um de vinte e quatro anos e o outro de dezenove. O mais velho virou meu filho através de adoção e o segundo, conversando com uma amiga sobre a vontade de ser pai – ela sabia que eu sou gay, não foi aquela história de “ah, tive um caso com uma mulher e aconteceu” –, a gente começou a planejar. Hoje, a mãe do meu filho é casada e nós somos super amigos. Eu adotei o meu filho mais velho depois de ter tido o mais novo. Foi assim: meu filho mais velho perdeu a mãe e ela era a única pessoa que ele tinha como referência e eu conhecia a mãe dele, ela era tia do meu ex-companheiro, que havia falado comigo sobre a vontade de adotá-lo, mas, como eles são primos, não teria como. Pensando no que a gente faria, eu fui conhecendo melhor a criança, que na época tinha treze anos, e a gente foi se apegando e vendo que tinha muita coisa em como, como uma família.
Ele sempre soube que o tio dele e eu fomos casados. Eu falei “se você quiser ser o meu filho, você vai ser meu filho para o resto da vida”. Na época, eu tinha feito uma cirurgia na coluna e tinha ido operar em São Paulo. Com uma semana de operado, voltei ao Ceará e comecei a procurar informações para fazer a adoção. Hoje a gente se ama muito e ele fala muito que quer se aproximar da luta indígena. O mais novo é mais rebelde. Somos uma família LGBTQIAP+ muito unida. Falo sempre com eles que não irei deixar dinheiro, mas que deixarei um legado de luta, como aprendi com a minha avó Rita e com todo o povo Anacé, que significa, justamente, “primo, parente”.
Fui casado com o Marcelo, que também é uma liderança indígena, durante muito tempo. Todo mundo sempre soube da minha sexualidade, mas o povo nunca ligou para isso. No início, até tinha gente que falava “ah, aqueles dois indígenas viados”, hoje são esses dois viados que estão lutando. Quando eu vejo tanta gente LGBTQIAP+ lutando, como a Erika Hilton, como a Yakecan Potyguara, cineasta que eu amo de paixão e é lésbica, quando eu olho para trás e vejo a história de Tibira do Maranhão, tem tanta gente LGBTQIAP+ que é exemplo para esse país. Em 2022, foi o primeiro ano em que, no ATL (Acampamento Terra Livre), foi levada uma mesa de movimentos LGBTQIAP+, que eu lembro, inclusive, que a Mídia Ninja falou muito sobre isso. Foi a primeira vez que teve essa mesa, mas a gente sempre existiu. Estou há vinte anos falando que sou gay e que vou lutar como um indígena e as pessoas vão ter que me respeitar. E não somente respeitar a mim, mas também a todas as outras pessoas. O preconceito não partiu de nós. O preconceito e o pecado foram inventados pelo colonizador.