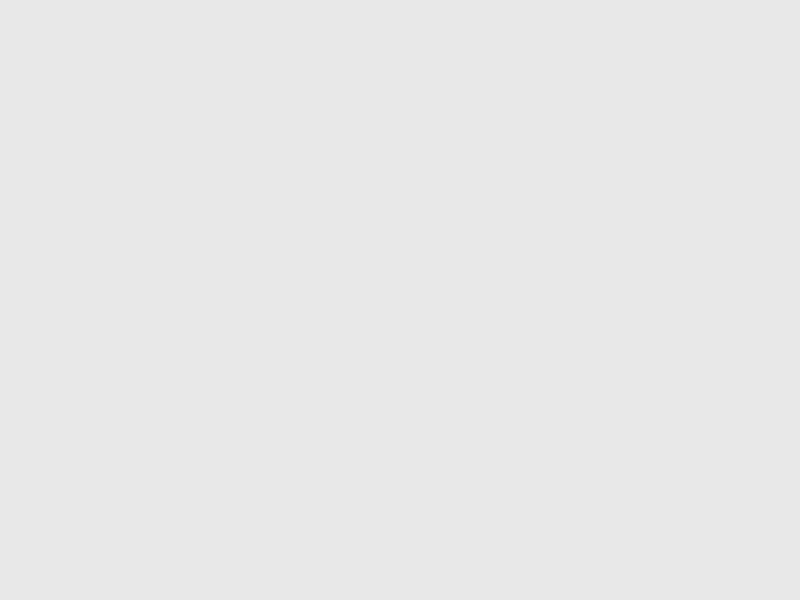Amazônia, terra de lutas racializadas: heranças e persistências da experiência indígena e negra
Sem reconhecer a Amazônia Negra e Indígena, não há justiça histórica. E sem justiça, não haverá Amazônia viva.
Por Ellana Fiama Souza da Silva e Tel Filho Guajajara
Ao longo da história brasileira, a Amazônia tem sido representada, principalmente, pela presença indígena e pela exuberância da natureza. No entanto, há uma dimensão frequentemente invisibilizada: a presença negra na formação da região. Este artigo busca discutir a constituição da chamada Amazônia Negra, evidenciando sua história de resistência e contribuição social e cultural.
Nos períodos em que se estabelecia um critério de identidade sobre a região, identificamos que ela não é, somente, racializada, de uma maneira desproporcional as outra regiões, o que seaproxima é o cerrado que tem uma potente identidade de fome, miséria, sede e chão quebrado. Nas amazônia com os ‘s’ buscamos entender e compreender o porque uma grande quantidade de águas em abundância e matas fechadas, faz com que podemos observar o que chamamos de estigma, de animais selvagens como doméstico por exemplo, ou até mesmo de casa ribeirinhas como a sua principal base. Essa falsa identidade busca não só apenas ofuscar uma identidade de pertencimento orgânico, como atribui outras formas em cima dela.
A Presença Negra na Amazônia
Desde o período colonial, africanos escravizados foram trazidos para a Amazônia para trabalhar em engenhos, casas urbanas e, posteriormente, nos seringais e nas atividades de mineração. Segundo Cavalcanti (2005), “a presença africana na Amazônia foi significativa, embora historicamente sub-representada nos registros oficiais e na memória coletiva”.
O ciclo da borracha (final do século XIX e início do século XX) também atraiu migrantes negros, especialmente do Maranhão e do Nordeste, consolidando a população afrodescendente na região (Sarges, 2002).
A formação de quilombos, ou comunidades autônomas de negros fugidos, foi uma estratégia de resistência fundamental. Para Moura (1992), “os quilombos na Amazônia representaram não apenas fuga da escravidão, mas também um projeto de sociedade baseada na autonomia, reciprocidade e reexistência”.
Hoje, muitos desses territórios ainda existem como comunidades quilombolas, reconhecidas oficialmente, embora sofram ameaças constantes. A cultura afro-amazônica manifesta-se de forma vibrante em festas como o Marabaixo (Amapá) e no Carimbó (Pará), nas práticas religiosas de matriz africana e na culinária típica, evidenciando uma forte influência africana no modos de vida locais.
Segundo Lima (2016), “a cultura negra na Amazônia ressignifica tradições africanas a partir de um diálogo com o meio natural e as culturas indígenas, gerando expressões únicas”.
Invisibilização e Racismo Ambiental
A invisibilização da população negra amazônica persiste até hoje. Como aponta Ribeiro (2020), “o racismo ambiental na Amazônia afeta desproporcionalmente comunidades negras e indígenas, que são marginalizadas no acesso a políticas públicas e sofrem com a degradação de seus territórios”.
Projetos de grandes hidrelétricas, exploração mineral e desmatamento impactam diretamente essas comunidades, que historicamente contribuíram para a preservação ambiental da região.Como aponta D’Incao (2004), a Amazônia não pode ser reduzida a uma única identidade, mas sim compreendida como um mosaico de pluralismos culturais e ambientais. Essa visão é fundamental para romper com as representações homogêneas da região, que frequentemente a associam apenas à floresta ou às populações indígenas, desconsiderando a complexidade de seus povos, histórias e culturas.
A Amazônia é formada por uma rede de interações entre indígenas, negros, ribeirinhos, migrantes nordestinos, comunidades tradicionais e outros grupos sociais que, ao longo dos séculos, construíram modos diversos de habitar e significar o território. Reconhecer esse mosaico é essencial para entender as dinâmicas sociais, culturais e políticas da região, além de ser um passo necessário para a construção de políticas públicas que respeitem a pluralidade e os direitos dos diferentes povos amazônicos. A narrativa da Amazônia Negra, por exemplo, se insere nessa pluralidade e reforça a importância de abordar a região sob uma perspectiva multifacetada, que valorize suas distintas contribuições e resistências históricas.
Reconhecer a existência da Amazônia Negra e Indíegna é um passo essencial para repensar a história e a identidade brasileira. A valorização dessa presença desafia as narrativas hegemônicas e exige políticas públicas que respeitem a diversidade e garantam os direitos territoriais das comunidades negras amazônicas.
Como afirma Munanga (2006), “é necessário resgatar e valorizar a história dos africanos e seus descendentes em todas as regiões do Brasil, para uma verdadeira democratização da memória nacional”.
Sem reconhecer a Amazônia Negra e Indígena, não há justiça histórica. E sem justiça, não haverá Amazônia viva.
Referência
CAVALCANTI, Nireu. A formação das cidades na Amazônia. Rio de Janeiro: Record, 2005.
D’INCAO, M. A. Amazônia e a crise da modernização. Belém: Paka-Tatu, 2004.
LIMA, Ana Cláudia. Negritude Amazônica: cultura e resistência. Belém: Paka-Tatu, 2016.
MOURA, Clóvis. Quilombos: resistência ao escravismo. São Paulo: Ática, 1992.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Petrópolis: Vozes, 2006.
RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
SARGES, Maria de Nazaré. O Fio e o Cilício: a indústria da borracha na Amazônia. Belém: Editora da UFPA, 2002.
Sobre os autores
Ellana Silva: Cientista Social pela UFPA e pós-graduada em Ensino da Sociologia pela UEPA. Ativista da educação, em defesa das mulheres, combatendo ao racismo e LGBTfobia, e pela qualidade de vida das trabalhadoras e trabalhadores.
Tel Guajajara: Indígena do Povo Guajajara/Tenetehar (MA), Estudante de Direito na UFPA, Coordenador do CUCA da UNE, ativista da cultura, clima e educação, Conselheiro Nacional de Juventude do CONJUVE.