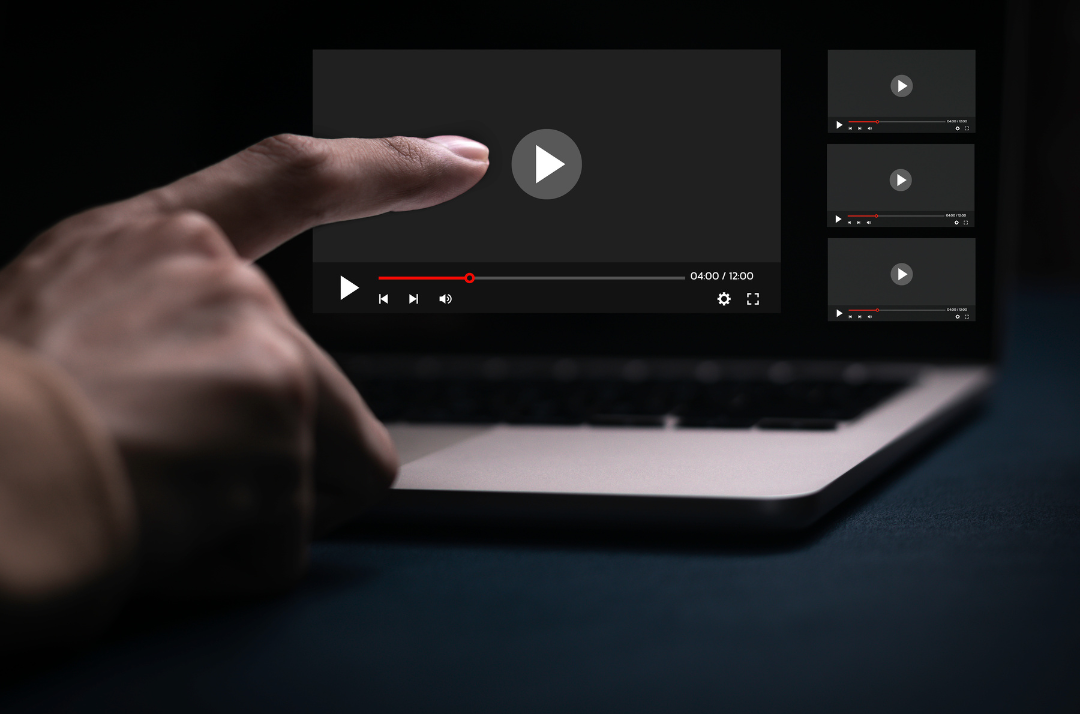
O problema da palavra ‘conteúdo’
Passamos a usar esta palavra de maneira um tanto irrefletida, sugerindo algo genérico
Por Felipe Braga*
Assim que telas começaram a ser instaladas por toda parte – em elevadores, nas estações de metrô, nos telefones que carregamos nos bolsos –, nos demos conta do óbvio: elas precisariam exibir algo. Mas o quê, afinal? Ora, “conteúdo”.
A palavra “conteúdo”, que passamos a usar de maneira um tanto irrefletida, sugere algo genérico. E é irônico que justamente o termo que designa o que contém, não contenha nada de específico. Logo estávamos chamando filmes, séries, videoclipes, notícias e o produto das redes sociais igualmente de “conteúdo”, como se fosse tudo parte de um mesmo universo de coisas indistintas que deveria preencher esta nova geração de telas conectadas.
Fazendo uma comparação: existem os livros de ficção, os manuais de tratores e as bulas de remédio. Os três têm funções diferentes, embora possam ser bem ou mal redigidos, consumidos em papel ou em telas. Se escritos, são textos, e portanto objetos de leitura por um leitor. Mas em nenhum momento os chamamos, genericamente, de “leituras”, só porque são igualmente lidos. Um livro é um livro, um manual é um manual, uma bula é uma bula – cada qual com seu papel social.
A comparação acima ilustra o ponto, mas não é de todo honesta. Se por um lado livros, manuais e bulas não competem pelo tempo dos leitores (ninguém de férias na praia fica dividido entre Paul Auster e uma bula de Ibuprofeno) é difícil argumentar que filmes, séries e redes sociais não estejam competindo pelo tempo das pessoas. A disputa contemporânea por atenção, embora muito mencionada hoje como algo “novo”, tem sua origem no século XIX (cf. Jonathan Crary, Suspension of Perception). Arautos do caos gostam de dizer que atenção tornou-se uma commodity, relacionando o sucesso do TikTok ao declínio das salas de cinema. Mas a crise das salas de exibição tem razões mais amplas, e a discussão sobre como a experiência moderna pressupõe uma batalha pela atenção do observador, perdido em um tiroteio de estímulos, não é nova – ela tem 150 anos.
O ponto é outro: chamar tudo de “conteúdo” é ruim para o entretenimento e seu ecossistema. Chamar filmes de “conteúdo” empobrece a indústria cinematográfica. Tratar séries como “conteúdo” enfraquece a produção de TV – porque aliena estas obras do contexto que as justifica cultural e economicamente. Porque as coloca para competir em uma arena sangrenta que ignora a razão de ser de cada produto, como se o objetivo final de toda imagem se reduzisse a sugar a atenção das pessoas. E mais importante: porque desconsidera que narrativas são, por definição, experiências imersivas – ou seja, a antítese do click.
Filmes e séries (mesmo os de má qualidade) propõem uma experiência na qual se mergulha, enquanto a cultura do click, ao invés de alimentar uma audiência, se alimenta dela. Briga por sua atenção para então descartá-la – enquanto mantém o indivíduo ali ligado, clicando mais.
A disrupção causada pela chegada das redes sociais às nossas vidas provocou uma desorganização do mundo do entretenimento, abalando cadeias produtivas e afetando hábitos de consumo. O surgimento das plataformas de streaming, com a tentativa de conciliar uma arte centenária às possibilidades dessa disrupção, rendeu promessas excitantes. A maior delas, talvez, fosse a de acesso irrestrito a tudo que havia em termos de cinema e TV, quando e onde se quisesse. Isso não era pouco, e era revolucionário. Tal promessa, contudo, já indicava uma abordagem a filmes e séries como “conteúdo”. Gerir esse tudo tão amplo provou-se um desafio, mesmo com os melhores esforços algorítmicos.
Em abril de 2023, o streaming chief da Warner Bros Discovery revelou um número interessante: 75% do tráfego da plataforma de então (a antiga HBO Max) era impulsionado por algumas poucas dezenas de filmes e séries na home screen do sistema. O resto era library – uma coletânea com pouca curadoria, um universo sem fim de propriedades intelectuais produzido ao longo de décadas, deixado ali em um segundo plano da plataforma. Mas visibilidade é tudo: Quando a Netflix, em 2023, faz a aquisição de Ballers – série da HBO de 2015, esquecida nesta biblioteca da HBO Max – e estreia esse “conteúdo velho” em sua plataforma, dando-lhe o destaque apropriado… Ballers vai direto para o Top #10 americano da Netflix. Curadoria e visibilidade não são detalhes.
Não se trata de voltar no tempo e tentar colocar o gênio de volta na lâmpada. Isso não vai acontecer. Mas se reorganizar estabelecendo novas estratégias parece uma questão de sobrevivência – porque neste turbilhão algo grave aconteceu: esquecemos o propósito do que fazemos.
Do ponto de vista de quem produz entretenimento, o que significa na prática essa “reorganização”? Para começar, questionar-se sobre: quais são as histórias que estamos contando? Qual é a relevância delas para o público agora? O que elas trazem de novo? A quem interessam, e por quê? E também sobre a maneira como estamos promovendo acesso a elas. Ted Sarandos disse o essencial recentemente (New York Times, 26/05/24): se quisermos competir com a enormidade de “conteúdos” gratuitos na internet, o primeiro passo deve ser convencer a audiência de que o que produzimos vale a pena. De que vale o preço de um ingresso, de uma assinatura.
A palavra “conteúdo” é um sintoma, não a causa desta desorganização. Coincide com o desembarque do Vale do Silício em Hollywood. Não foi só o entretenimento que viveu esse processo: a sacudida levada pelo jornalismo, por exemplo, também foi dura. Se veículos como o New York Times tornaram-se viáveis de novo (cf. Statista 12/03/24), não foi apenas porque se atualizaram tecnologicamente, mas sobretudo por causa da aposta feita na própria relevância.
Se nós, que escrevemos e produzimos filmes e séries, não nos esforçamos para convencer a audiência que estas histórias falam sobre suas vidas e são importantes a ponto de valerem o mergulho, por que alguém vai se dar ao trabalho? Não pode ser “conteúdo”. É cinema. E “cinema” não é apenas um tipo de janela ou formato audiovisual: é uma relação particular, afetiva, com a audiência. O mesmo vale para séries: não adianta produzi-las e jogá-las em uma plataforma sem lhes dar destaque. Ninguém vai se importar.
As últimas duas décadas nos venderam a ideia de que tudo é “conteúdo”, e que portanto bastaria – como no YouTube, Instagram e TikTok – produzir um pouco de cada coisa e disponibilizá-lo em plataformas. Mas para quem se dedica a contar histórias, isso pode não ser suficiente. Perder a vergonha de dizer à audiência sim, o que fazemos é especial, e é por isso que você deve nos ver, soa como algo que devemos reaprender. Inovações tecnológicas sempre surgiram e mudaram tudo. Coube a diferentes gerações se reinventar, assim como cabe hoje à nossa.
Sim, as telas se reproduziram. O que está passando nelas? Na estação do metrô, dentro do elevador, no celular? Não importa. Esse é o ponto: não importa. Não é feito para exigir atenção. É apenas “conteúdo” em busca de um click — ao contrário de narrativas que refletem nosso estado no mundo (mesmo quando apenas para entreter), nos inspirando, nos obrigando a nos olhar no espelho. A grande vantagem estratégica do entretenimento é sua relevância, sua capacidade de nos fazer parar tudo e dar um grande mergulho – tratar tudo como “conteúdo” vai na direção inversa.
*Felipe Braga escreveu os filmes “Marighella”, “Legalize Já”, “Latitudes” e “Cabeça a Prêmio”, além de estar entre os criadores das séries “Lov3” (Amazon), “Sintonia” (Netflix) e “Samantha!” (Netflix). É membro da International Academy of Television Arts & Sciences e sócio da LB Entertainment.





