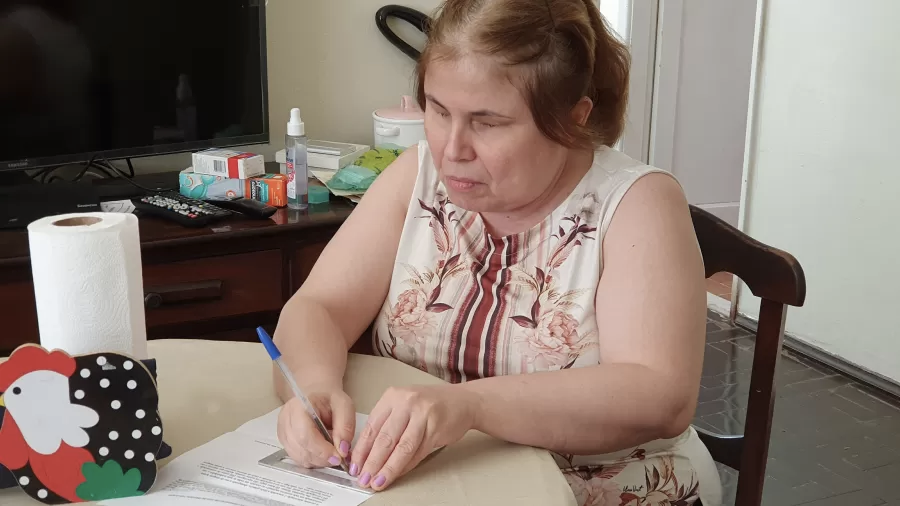
Narradoras ocultas: professoras com deficiência visual enfrentam desafios e sobrecarga de trabalho na pandemia
A reportagem aborda os desafios e a sobrecarga de trabalho das professoras com deficiência visual que, privadas de usar o tato em ambientes públicos durante a pandemia, tiveram uma de suas principais formas de se orientar comprometida.
Texto: Cristiana Felippe, Maria Ligia Pagenotto, Maya Sangawa, Coletivo Pupilas
Fotos: Márcia Minillo e Maya Sangawa
*Imagens com texto alternativo
Enquanto a visão traz a percepção das cores do mundo, o toque é a primeira forma de comunicação humana e de cuidado. Privadas de usar o tato em ambientes públicos durante a pandemia, as professoras com deficiência visual tiveram uma de suas principais formas de se orientar comprometida. Pelos dedos, elas leem livros, embalagens, localizam produtos no mercado e sentem as teclas da maquininha do cartão. Também por meio do tato, locomovem-se com bengala e dependem do braço de outra pessoa para atravessar as ruas.
Mesmo com tantas privações, somadas à sobrecarga de trabalho e à falta de apoio, as professoras cegas não deixaram de realizar suas tarefas e ainda se tornaram arrimo de família, cuidando de seus lares e alunos. Narradoras invisíveis de uma sociedade onde o próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro, declarou que pessoas com deficiência atrapalham, elas desafiam o capacitismo e reivindicam acessibilidade e inclusão.

Regina Célia Ribeiro da Silva, deficiente visual. São Paulo. SP. 2021. Foto de Marcia Minillo
Os inúmeros obstáculos diários não apagam o sorrisão da professora Regina Célia Silva, de 54 anos. Começam no sobe e desce da ladeira íngreme de calçada irregular, estreita, esburacada e cheia de postes para chegar à escola onde trabalha, na Vila Gustavo, zona norte de São Paulo. Algumas vezes, precisou atravessar a rua sozinha, guiando-se somente pelo som dos carros, pois depende da boa vontade de quem passa, algo ainda mais difícil na pandemia. Não existem semáforos sonoros no bairro onde mora.
Regina é uma das 17,3 milhões de pessoas com deficiência que vivem no país (8,4% da população com 2 anos ou mais, segundo o IBGE), sendo a falta de visão a mais recorrente (3,4%). Ela faz parte dos 8.366 educadores brasileiros com alguma deficiência (Inepe). No Estado de São Paulo, há 798 professores com deficiência, 41,3% cegos. As dificuldades para se locomover e fazer compras somaram-se ao aumento das tarefas domésticas e à preocupação financeira. Enquanto passa roupa, tarefa que gosta de fazer, Regina aproveita para ouvir os e-mails e mensagens que chegam no computador ou celular. Seu salário foi o único da casa durante cerca de um ano e meio. O marido, Geons Galdino, de 54 anos, também cego, perdeu o trabalho com laborterapia em empresas, durante o isolamento social.

Regina Célia Ribeiro da Silva em frente à escola onde trabalha na zona norte de São Paulo. Foto ©Marcia Minillo
Esses não foram os maiores desafios de Regina. Na pandemia, em abril do ano passado, ela descobriu o câncer de pulmão do pai, de 89 anos, e se desdobrou para cuidar dele, mesmo sem parar o trabalho remoto na escola. Buscou tratamento, cadeira de rodas, medicamentos, fraldas, doação de cama especial e equipamentos. Foi acompanhante nas internações e, com muita delicadeza, conseguiu fazer o pai se alimentar, mesmo quando ele já estava com dificuldade de engolir: o café com leite era de canudinho e colocava pedacinhos de pão em sua boca, tomando cuidado para ele não engasgar. Neste período, ouviu de uma enfermeira que o hospital não era lugar para ela e, de uma cuidadora, que não deveria fazer tanta pergunta ao médico.
Capacitismo
“Fiquei com ele no Pronto-Socorro do hospital, e o Cristian só era meus olhos… Meus olhos. Então, tia, vamos pra esquerda, vamos pra direita, vamos pra frente, me ajuda a achar um enfermeiro. Aí, lá no Pronto-Socorro, tinha uma infeliz de uma enfermeira que me viu de braço dado com o Cristian e eu fazendo pergunta – ‘que hora que vem o médico?’. Ela olha assim: ‘o que ele é seu?’. ‘Ah, meu sobrinho’. Ela olha assim: ‘Por quê que você não deixa sua tia em casa descansando e fica aqui, você, com seu vô?’. Sabe por quê? Porque eu sou cega. Porque se eu enxergasse, se fosse você que estivesse lá com seu pai e o seu sobrinho, ela nunca ia perguntar isso. Não, mas ela perguntou porque eu sou cega. Então, daí, essas coisas, esse desgaste, eu ter que explicar o tempo todo que eu sou cega, mas não sou besta.” (Regina)
Em agosto, com a madrasta também hospitalizada para uma cirurgia de câncer de tireoide, o pai precisou ir para um lar de idosos para receber cuidados mais específicos. Semanas depois, ele voltou para casa, mas já era a despedida. Regina acompanhou os detalhes do enterro de seu pai pela descrição de uma amiga: “Estão colocando as cordas, o caixão está descendo… Você está ouvindo o barulho? Agora, está encostando lá na pedra onde ele vai ficar”.

Regina Célia Ribeiro da Silva, deficiente visual. São Paulo. SP. 2021. Foto de Marcia Minillo
“Vendo” o enterro do pai
“Ele faleceu no dia 8 de setembro. No dia em que enterramos meu pai, uma amiga minha, muito amiga, minha amiga-irmã, né, a Rita, ela me descreveu o sepultamento. Não sei se outra pessoa teria, assim, a decência, e a calma de descrever: ´ó, os coveiros estão colocando umas cordas, umas correntes, o caixão tá descendo… Cê tá ouvindo esse barulho? Eles tão tirando as pedras, a areia, tão abrindo. Tá ouvindo esse barulho? É a corrente descendo… Pronto, o caixão tá encostando lá no pé, aonde ele vai ficar.’ Né? Então, assim, né, enterrei. Tava muito cansativo emocionalmente pra mim.” (Regina)
A educadora chora ao falar do pai militar, que a levava e buscava na escola e também lia e gravava os livros do Magistério e da faculdade de Psicologia para ela. Mas, no início, não queria que a filha trabalhasse. O jeito foi prestar concurso público escondida. “Um dia, eu cheguei e fui recebida com um abraço dele, dizendo ‘parabéns, professora!’. Ele havia aberto a minha carta”, diz. “Não posso ver a foto do meu pai quando fico com saudade, mas guardo os bons momentos, do orgulho de me levar ao altar da igreja e por eu ser educadora”.
As mulheres com deficiência passam por um processo de invisibilização histórica, na avaliação da psicóloga Karla Garcia, psicóloga e mulher com deficiência física, pesquisadora do campo dos estudos sobre deficiência da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Também foi colaboradora do guia “Mulheres com Deficiência: Garantia de Direitos para Exercício da Cidadania” do coletivo Feminista Helen Keller, lançado em maio de 2020.
Segundo ela, ao assumir o papel de cuidadoras, essas mulheres têm a oportunidade de mostrar que são capazes, mas se tornam também reflexo da carência na implementação de políticas públicas. “O cuidado não pode ser relegado somente às mulheres, todos somos responsáveis e dependemos uns dos outros em alguma medida. O mito do sujeito independente é uma falácia do regime capitalista, que nos exige autossuficiência, como se tudo dependesse do nosso mérito e força de vontade”, frisa Karla. “Temos que trabalhar com a interdependência e o cuidado deve ser visto como responsabilidade coletiva, inclusive, do Estado”, afirma.

Ana Cristina Hildebrand, deficiente visual. Rio de Janeiro. 2021. Foto de Maya Sangawa
Não ser capaz de cuidar da casa e do pai, Hercen, de 82 anos, também cego, foi o maior medo da professora Ana Cristina Hildebrandt durante a pandemia. No isolamento, ficaram sem a diarista e a faxineira e sobraram para ela os afazeres da casa onde moram, no Méier, zona norte do Rio. Ana, de 51 anos, leciona no Instituto Benjamin Constant (IBC), tradicional escola federal de ensino para cegos, na Urca, zona sul carioca. O Estado possui 520.688 pessoas com deficiência visual (IBGE). Antes da pandemia, ela quase não parava em casa: saía às 6h30 para trabalhar, frequentava um centro espírita e viajava com frequência para o sítio de amigos e casas de familiares em Minas. Hoje, além de se dividir entre aulas online, reuniões, correção de trabalhos e tarefas domésticas, também sente o pai mais dependente. “Ele toma 5 medicamentos por dia para hipertensão, bronquite e colesterol. Quando eu trabalhava fora, ele se virava mais, lavava a louça, fazia café. Depois, passou a delegar tudo para mim. Acho que é cultural”, diz.
A educadora é um exemplo de uma realidade frequente para as brasileiras. Segundo pesquisa da Gênero e Número / Sempre Viva, com 2641 participantes, metade das mulheres passou a cuidar de alguém durante a pandemia, sendo 3,5% delas responsáveis por pessoas com alguma deficiência. Os efeitos da sobrecarga na pandemia desencadearam em Ana, por exemplo, crises de ansiedade, alergia respiratória e conjuntivite pela higienização compulsiva.

Ana Cristina Hildebrand, deficiente visual. Rio de Janeiro. 2021. Foto de Maya Sangawa
Saúde mental abalada
“Tive uma crise de ansiedade, porque eu tive tipo uma vertigem, né, achei que eu ia desmaiar e tudo, não sei quê. Aí, cheguei a ir no hospital pra ver, né, se eu tava tendo algum piripaque. Me deram lá umas gotinhas de Rivotril, me deixaram lá um tempinho, deitada lá, pra descansar e me mandaram de volta pra casa. Deu aquele pane na cabeça, né? ‘O negócio é sério mesmo, vai morrer todo mundo e como é que eu vou fazer? E se a minha casa ficar muito suja? Se meu pai morrer? Como é que eu vou comer?’ Aquelas coisas malucas, né?” (Ana Cristina)
O celular foi um consolo para ouvir músicas, vídeos e conversar em grupos de WhatsApp, mas também foi fonte de ansiedade: precisou aprender rápido novos recursos para aulas à distância. Como alfabetizar em braile, quando o toque é fundamental no processo? A saída foi passar as lições em áudio por aplicativo. Além disso, uma vez por mês, os alunos buscam os exercícios impressos em braile no IBC, preenchem e depois devolvem à professora para a correção. No local, todos os outros 157 professores do Ensino Básico precisaram se reinventar para atender os 311 alunos com deficiência.
Com criatividade, Ana consegue estimular os alunos, oferecendo cuidado e afeto. Um exemplo foi um piquenique virtual realizado durante uma aula de Ciências: os estudantes de 10 anos prepararam, sob supervisão das mães, biscoitos e bolos para debater as propriedades da matéria. Foi um sucesso!
Uma aula de Ciências na pandemia
“A ideia do piquenique virtual surgiu com as crianças falando de transformação, misturas… Claro que os exemplos mais próximos da vida deles é a cozinha, né? E aí, até como uma forma de incentivar as mães a deixarem as crianças tocarem nas coisas… Eram quatro crianças e eu. Cada um de nós se comprometeu a fazer uma coisa. Fez com a mãe – é uma criança de 10 anos, né? Sendo cega ou não, a mãe ia ter que ajudar, né? Quando começou a aula, todo mundo já tava ali com seu lanchinho mais ou menos preparado e a gente foi comendo, dizendo: ‘O que você tá comendo? Tá bom? Tá gostoso? Ah, o meu eu enrolei bolinha! Ah, o meu eu fiz rosquinha… E aí, o que você tá tomando? Ah, eu tô tomando suco de uva! Ah, eu tô tomando café… A gente foi dizendo o que foi que a gente fez, o que a gente observou na hora da massa… Aquele era meio que o coroamento, né, da aula de Ciências sobre propriedades da matéria”.
Passo a passo, as educadoras cegas continuam trilhando seus sonhos, apesar dos obstáculos. Regina escreve um livro para orientar as famílias de pessoas com deficiência. Quer voltar a desfilar com o marido em escolas de samba no Carnaval e ser terapeuta quando se aposentar. Ana Cristina não vê a hora de viajar de novo. No caminho dessas professoras, têm pedra, buraco, poste e preconceito, mas elas fazem da travessia esperança.
*Esta reportagem foi feita com o apoio do Laboratório de Histórias Poderosas Brasil, uma iniciativa de Chicas Poderosas, comunidade internacional e organização sem fins lucrativos que busca fomentar o desenvolvimento de mulheres e pessoas LGBTQI+ em meios de comunicação e criar oportunidades para que todas as vozes sejam ouvidas. O Laboratório recebeu apoio da Open Society Foundations.
Créditos:
Coletivo Pupilas/Texto: Cristiana Felippe, Márcia Minillo, Maria Ligia Pagenotto, Maya Sangawa
Fotos: Márcia Minillo e Maya Sangawa
Edição: Bruna Escaleira
Checagem: Alessandra Monnerat
Acompanhamento de segurança: Helena Bertho
Coordenação de projeto: Equipe Chicas Poderosas







