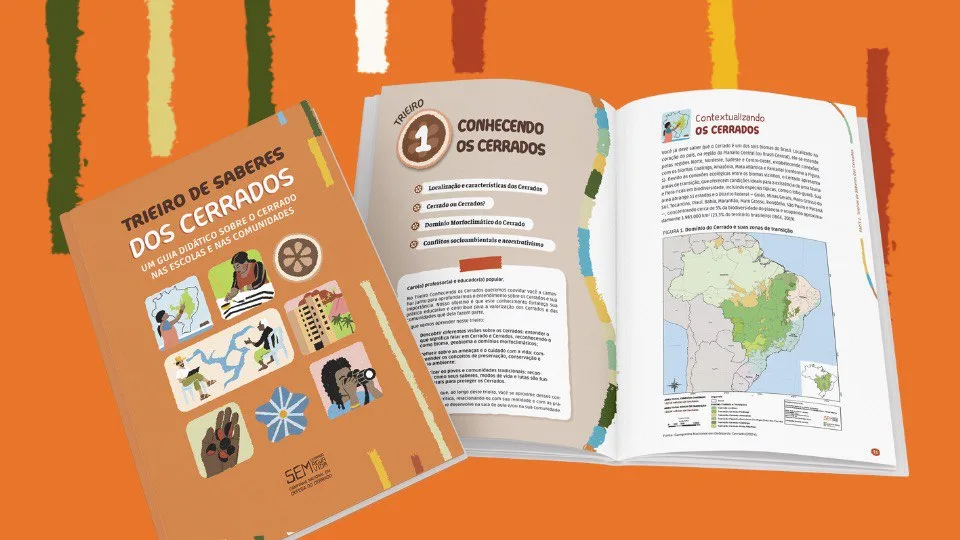Na COP, ativistas denunciam apagamento e alertam: sem Cerrado, não há Amazônia
Hoje o bioma é alvo de cerca de 60% de todo o desmatamento do Brasil; Redução de vegetação impacta função ecológica do “berço das águas”
Nicole Grell Macias Dalmiglio, da Cobertura Colaborativa NINJA na COP30
Nas conferências climáticas o Brasil tem apostado na Amazônia como sua principal credencial verde, mas alguns ambientalistas alertam que essa narrativa tem um efeito colateral que se torna mais evidente a cada edição da COP: o apagamento do Cerrado, bioma decisivo para a estabilidade hídrica e climática do país.
A invisibilidade do Cerrado não decorre de menor relevância ecológica, mas de um projeto histórico que o classificou como território “apto à conversão”, resumido à lógica da expansão agrícola.
Em artigo originalmente publicado no The Conversation Brasil e reproduzido pelo portal Terra, no primeiro dia da COP30, a pesquisadora Angelita Pereira de Lima, que é professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, Universidade Federal de Goiás (UFG), alerta que a liderança do Brasil em uma agenda de transição rumo a um desenvolvimento inclusivo e sustentável exige ações de proteção ao bioma.
A possibilidade para essa liderança e para essa transição passa por reconhecermos o óbvio que vem sendo esquecido: sem Cerrado, não há Amazônia; sem Amazônia e Cerrado integrados, não haverá liderança climática brasileira. Por isso defendemos duas ideias centrais: a janela política e tecnológica para o Brasil liderar um novo modelo de desenvolvimento está aberta, mas isso exige abandonar a fronteira rígida que trata o Cerrado como território sacrificável para ‘salvar’ a Amazônia.
Ou seja, o bioma responsável por abastecer rios, aquíferos e cidades não pode continuar ausente nas principais mesas de decisão climática. Especialmente, porque é o segundo maior bioma do Brasil, com 23,3% do território nacional (198,5 milhões de hectares) segundo dados atualizados do MapBiomas, relativos a 2024.
O Cerrado é o coração hídrico do país. Atravessa 12 estados, alimenta oito das doze grandes bacias hidrográficas e sustenta aquíferos como o Urucuia e o Guarani. Sua vegetação, marcada por raízes profundas e solos de alta infiltração, constitui uma infraestrutura ecológica que nenhum sistema construído pode substituir.
Diagnósticos do Ministério do Meio Ambiente e avaliações do IPBES mostram que as funções hidrológicas do Cerrado são essenciais para manter o regime de chuvas em regiões inteiras do país.
Hoje o bioma responde por cerca de 60% de todo o desmatamento do Brasil, concentrando a maior parte da devastação recente. Essa perda territorial profunda atinge diretamente a função ecológica que faz do Cerrado o ‘berço das águas’: o bioma abriga 8 das 12 grandes bacias hidrográficas nacionais, alimenta três dos principais aquíferos do país (Guarani, Bambuí e Urucuia) e possui solos cuja infiltração natural permite recarregar sistemas subterrâneos essenciais para o abastecimento humano, a produção de alimentos e a regulação climática.
Quando o desmatamento elimina essa vegetação – quase metade do Cerrado já foi convertida, segundo o MapBiomas 2024 – o país perde a capacidade de infiltrar e armazenar água, perde nascentes, perde rios. Por isso, quando o Cerrado perde território, ele perde água. E quando o Brasil perde a água do Cerrado, perde a base hídrica que sustenta sua agricultura, seu abastecimento urbano, sua geração de energia e a própria estabilidade climática que mantém o país funcionando.
Ainda segundo o MapBiomas, apenas 54,5% da vegetação nativa do Cerrado permanecia em 2022, com uma redução drástica das formações savânicas. O estudo “Um em cada quatro municípios do Cerrado tem menos de 20% de vegetação nativa” revela um nível de degradação tão profundo que compromete a capacidade de regeneração e empurra o bioma a um ponto de ruptura.
A expansão da fronteira agrícola no Cerrado – especialmente no Matopiba (região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) – não se restringe apenas à ocupação de terras, mas à reorganização violenta de hidroterritórios.
À ocasião da divulgação dos dados sobre supressão de vegetação nativa, a analista de pesquisa do IPAM e da equipe do Cerrado MapBiomas, Bárbara Costa destacou:
“ O Cerrado vem sendo transformado em ritmo acelerado nas últimas quatro décadas. Com maior supressão nativa entre 1985 e 1995 e depois, nas décadas seguintes, a agricultura se expandiu e se intensificou, consolidando-se como região central da produção agrícola no país, principalmente para grãos”.
Monoculturas de soja e algodão demandam volumes descomunais de água, pressionando aquíferos e secando nascentes; o uso massivo de agrotóxicos contamina poços, córregos e rios inteiros; a grilagem privatiza cursos d’água e desloca comunidades que deles dependem.
E, mais recentemente, o Matopiba se consolidou como a principal fronteira agrícola. “Concentrando grande parte da perda recente da vegetação nativa remanescente do bioma”, comenta Bárbara.
Povos e territórios
Já o antropólogo Alfredo Wagner de Almeida, ao discutir cartografias sociais e etnoterritórios, realça que não existe conflito ambiental que não seja também conflito territorial. No Cerrado, isso é evidente: onde o agronegócio avança, rompe-se a continuidade territorial das comunidades e, com ela, seus sistemas de manejo, suas relações com a água e seu conhecimento ambiental.
Território, nesse contexto, não é solo: é infraestrutura ecológica, memória, saber, manejo e reprodução da vida. É por isso que povos indígenas, quilombolas, geraizeiros, quebradeiras de coco, ribeirinhos e povos de fundo e fecho de pasto afirmam que defender o Cerrado é defender a si mesmos. Se pensarmos que não existem territórios vazios e sim territórios disputados, no Cerrado essa disputa é desigual: de um lado, corporações com capital, tecnologias extrativas e respaldo estatal; do outro, comunidades que preservam o bioma há séculos – como povos indígenas do Cerrado (à exemplo dos Xavante, Xerente, Krahô, Karajá, Avá-Canoeiro), quilombolas, geraizeiros, quebradeiras de coco babaçu, povos de fundo e fecho de pasto, vazanteiros e ribeirinhos, que enfrentam violência, ameaças, expulsões territoriais e criminalização.
A presença dessas comunidades na COP altera profundamente o debate. Elas desmontam a narrativa de que o Cerrado é um “bioma secundário” e mostram que sua destruição compromete a estabilidade hídrica nacional, a segurança alimentar, a biodiversidade e a própria sobrevivência dos demais biomas.
A presidente da Rede de Sementes do Cerrado (RSC), Anabele Gomes destaca que participar da COP30 é uma oportunidade de dar visibilidade às experiências do Cerrado e às práticas de restauração conduzidas por comunidades e povos tradicionais. “As redes de sementes são um exemplo de como é possível restaurar e, ao mesmo tempo, fortalecer víncúlos sociais e econômicos nos territórios. Estar na COP30 é reafirmar que a restauração inclusiva é construída por muitas mãos e que os povos do Cerrado têm um importante papel na agenda climática global”, afirma.
A atuação da rede demonstra isso na prática: seus projetos de restauração ecológica com sementes nativas são formas de recompor o bioma a partir da lógica dos povos que dele dependem e o manejam. A RSC mostra que restaurar o Cerrado não é um exercício técnico, mas territorial. Só é possível restaurar aquilo cujo sentido territorial é conhecido.
A dimensão socioambiental ganha outra profundidade quando se compreende que a água do Cerrado não é um recurso, mas uma relação. Relação entre solo, raízes, clima, rios, modos de vida. Quando o Cerrado é destruído não se perde apenas cobertura vegetal, mas a rede de relações que mantém o país em pé. É por isso que ativistas afirmam na COP que o Cerrado não disputa protagonismo com a Amazônia: ambos constituem sistemas interdependentes. As águas do Cerrado alimentam a floresta; a umidade amazônica retroalimenta o Cerrado. Ignorar essa interdependência é insistir numa política ambiental fragmentada, incapaz de responder à crise climática.
O que está em jogo é a própria noção de desenvolvimento. A COP revela que o Brasil tenta se projetar como liderança climática, mas mantém internamente um modelo baseado em concentração fundiária, destruição de hidroterritórios e expulsão de povos tradicionais. Por isso, quando as comunidades do Cerrado denunciam seu apagamento elas não reivindicam apenas visibilidade, mas um outro modo de organizar o território.
E aqui reside o ponto central: não existe futuro climático sem Cerrado, porque não existe futuro climático sem território, água e povos. O bioma que o Estado insiste em tratar como espaço disponível é, na verdade, a base sobre a qual a vida do país se sustenta. Se a Amazônia inspira o imaginário global, o Cerrado sustenta o chão. E nenhum país permanece de pé quando o chão desaparece.