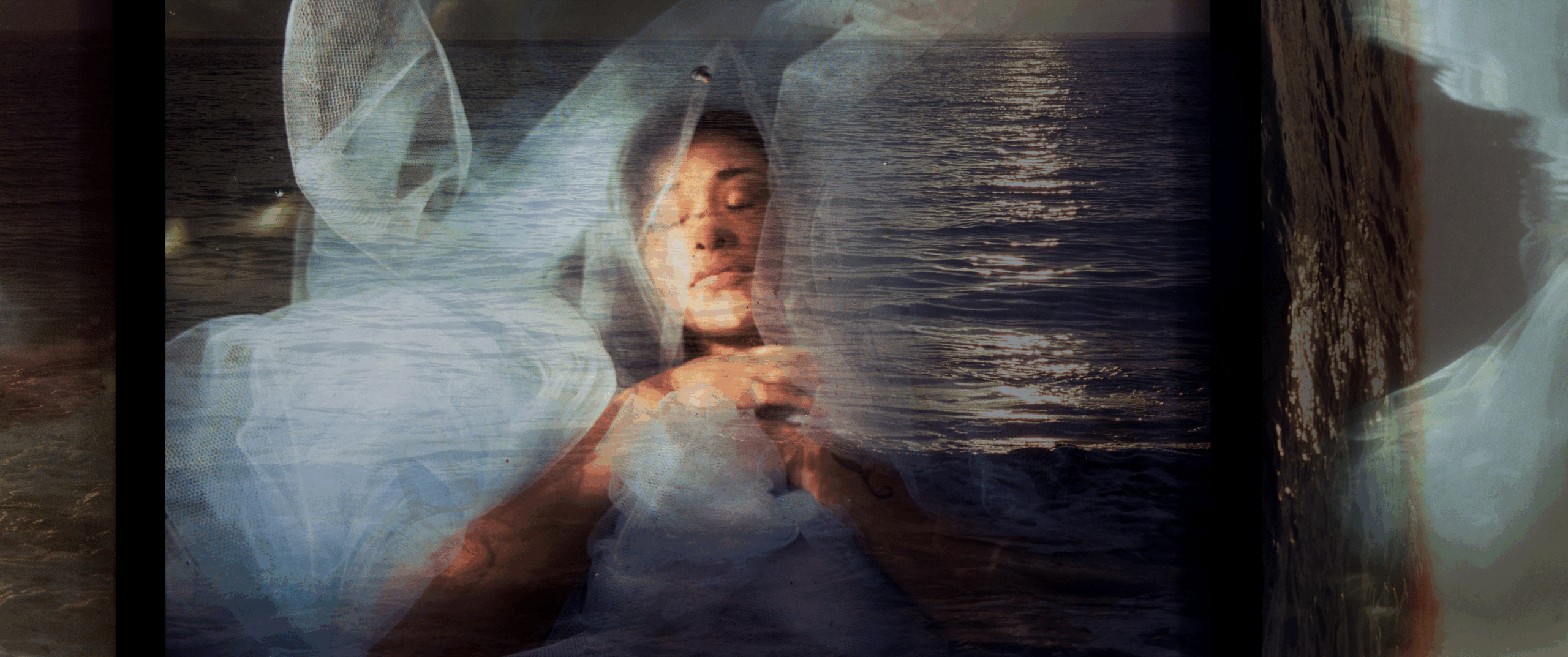Mostra SP, um caso de amor como o de ‘Lisbela e o Prisioneiro’
Como no filme de Guel Arraes, o evento convida o público a viver paixões e descobertas entre o breu da sala e o clarão encantado da tela
Por Hyader Epaminondas
A melhor forma de explicar o que é a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, essa maratona apaixonada de filmes que caminha para seus 50 anos, é evocando a imagem vibrante de “Lisbela e o Prisioneiro”, de Guel Arraes. Não apenas por ter dirigido essa comédia romântica tão brasileira, mas por ter romantizado com humor e lirismo o próprio método epistemológico da arte cinematográfica. Porque a relação que temos com a Mostra é exatamente essa: um caso de amor, daqueles cinematográficos, intensos e divertidamente caóticos, como o de Lisbela e Leléu.
Logo na cena de abertura, Lisbela descreve a sensação de entrar numa sala de cinema. Fala sobre o melhor lugar, o posicionamento perfeito da tela, o escuro que nos engole com carinho. Quem cresceu frequentando cinema no começo dos anos 2000, antes das reformas, quando as salas eram planas e a maior preocupação era sentar atrás de alguém alto, entende o que ela quer dizer. Essa mesma memória afetiva se repete nos encerramentos da Mostra, ano após ano, principalmente nas exibições na Cinemateca Brasileira: cadeiras alinhadas em chão plano, legendas minúsculas projetadas numa telinha abaixo da tela principal e um cuidado quase artesanal na exibição do último título.
Somos todos um pouco como Lisbela. Vamos ao cinema sozinhos, com o coração aberto, e nos encantamos com cada detalhe da experiência. Assistir a um filme é mais do que sentar e ver uma história: é entrar num mundo novo, escolher o melhor ângulo da sala, prestar atenção ao silêncio antes da primeira cena junto ao escuro confortável que nos acolhe. Como Lisbela, encaramos cada sessão com o olhar de quem está vendo o cinema pela primeira vez. E, no fundo, tem sempre uma aura de primeira vez.
Assim como a protagonista fala dos filmes com lirismo e obsessão, nós, os frequentadores da Mostra, nos perdemos em seu catálogo com a mesma devoção. Como Leléu tenta amar todas as mulheres de uma vez, tentamos amar todos os filmes, mesmo sabendo que não há tempo de consumir todos. Cada sessão é uma nova paixão, com histórias que nos fazem rir, chorar ou simplesmente contemplar. Não importa se o filme vem da Polônia ou do interior de Minas, se é silencioso, experimental ou um épico hollywoodiano. Todos eles fazem parte do grande caldeirão de experiências que a Mostra propõe.
O subtexto de “Lisbela e o Prisioneiro” é o amor, pelo outro, pela vida, pela arte. E é esse mesmo amor que move a Mostra. Como um labirinto de possibilidades, ela nos leva por becos e vielas onde cada esquina é uma surpresa. Às vezes, encontramos filmes inspirados em fatos reais. Outras, somos arremessados na ficção mais delirante. E é nesse abraço ao desconhecido que o público se reúne, vindo de todas as partes do país e de diversas vivências, para se lançar, como Lisbela, nos braços de Leléu. Ou melhor: nas luzes da tela.
Todo ano, quando a programação é divulgada, a reação é parecida. Nos perdemos entre os títulos, trailers, sinopses e imagens. Às vezes, um nome de diretor nos chama atenção. Outras, uma fotografia ou sinopse instiga algo dentro da gente. Sempre há os filmes mais comentados, os mais hypados, mas até esses ganham uma aura diferente quando sob a curadoria da Mostra. Parece que tudo ali ganha um novo brilho, especialmente os filmes nacionais que, como Lisbela dizia: “Quando a mocinha é nacional, é bom que o beijo já venha traduzido.”
A literatura de cordel que embala “Lisbela e o Prisioneiro”, com sua rima, imaginação popular e poesia nordestina sob o prisma pop, conversa diretamente com o espírito da Mostra, que também se dedica a exaltar o cinema autoral, nacional e periférico. Guel Arraes criou uma obra enraizada num Brasil ofuscado pela cultura sulista. Da mesma forma, a Mostra se firmou em São Paulo como um farol que ilumina obras que dificilmente chegariam ao grande público, muitas vezes ofuscadas pelo cinema hollywoodiano tradicional.
Leon Cakoff, criador da Mostra, dizia que não existe filme ruim. Para ele, todo filme precisava ser visto, consumido, discutido, como forma de expandir o imaginário coletivo. E é exatamente isso que Lisbela faz com suas referências e paixões. Ela acredita que o cinema é essa mistura de tudo, um caleidoscópio de amores e desamores que reflete a alma humana, onde a arte de ver filmes é também a arte de entender o mundo. Ou ao menos tentar.
As últimas edições foram especialmente marcantes pra mim, mas a aventura começou antes de chegar na Cinemateca. Conseguir os ingressos para o encerramento foi digno de um argumento de “Missão Impossível”, mas assistir “Ferrari”, de Michael Mann, rugir na tela como uma oração sobre motores e ambição, e presenciar, no ano seguinte, Coppola apresentar seu sonho lúcido chamado “Megalopolis”, foi como tocar o impossível. São momentos assim que fazem da Mostra um lugar onde o cinema deixa de ser projeção e se torna presença. Algo entre o efêmero e o eterno.
Assim como o filme de Guel Arraes só aconteceu porque Virgínia Cavendish acreditou na ideia e insistiu no projeto, a Mostra só acontece porque há uma curadoria apaixonada por cinema que insiste em nos levar além do que o circuito comercial nos permite imaginar.
A Mostra de São Paulo: um farol de cinema
Se nos apaixonamos por cada filme como Lisbela, é porque alguém antes nos ensinou a olhar para a tela com deslumbramento. Essa é a história de Leon e Renata, os dois nomes por trás da luz pulsante da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
A Mostra é uma memória viva, um corpo coletivo de sonhos que se renova a cada edição, feita da soma entre os filmes exibidos e os olhos que os assistem, absorvem e digerem cada fragmento onírico da sessão oferecida. Para quem caminha por entre as salas escuras com o mesmo encantamento de Lisbela, é importante lembrar que esse farol cinematográfico foi aceso em tempos difíceis, com urgência e resistência.
Como relembra o documentário “Viva o Cinema! Uma História da Mostra de São Paulo”, dirigido por Gustavo Rosa de Moura e Marina Person, foi nos anos finais da década de 1970, em pleno regime militar, que Leon Cakoff ousou imaginar um outro cinema possível em um momento em que a censura dominava as telas e o acesso ao cinema autoral internacional. Enquanto George Lucas, em 1977, inventava “Star Wars” em uma galáxia muito, muito distante, Leon Cakoff inaugurou a Mostra de São Paulo, mostrando ao público brasileiro que mundos extraordinários também existem aqui na Terra, fora do circuito comercial. Um criava estrelas no espaço; o outro, estrelas na tela, ambos conectando culturas e imaginários além de qualquer fronteira.
Leon acreditava que o cinema era uma forma de resistência, e sua curadoria valorizava o risco, a densidade, a ousadia narrativa. Não importava o país, o orçamento ou a fama do diretor: se o filme tinha algo a dizer, ele merecia ser exibido. E assim, ano após ano, ele fez da Mostra um espaço de provocação e descoberta, quase como um antídoto contra o empobrecimento cultural da época.
Foi ali que muitos conheceram nomes que chegaram ao Brasil graças ao olhar visionário de Leon. Mas nenhum farol permanece aceso por tanto tempo sem alguém cuidando de sua chama. Após o falecimento de Leon, em 2011, quem assumiu o comando da Mostra foi sua companheira de vida e de pós-créditos cinematográficos: Renata de Almeida. E se Leon foi o arquiteto da utopia, Renata é a engenheira que a mantém de pé.
Renata não apenas preservou o espírito original da Mostra, como ampliou seus horizontes. Ela conduziu o festival por tempos complexos, adaptando-o às transformações tecnológicas, à diversidade de públicos e às novas formas de ver cinema, principalmente durante a pandemia de COVID-19. Sob sua liderança, a Mostra expandiu seus palcos, conquistou novos públicos e reafirmou sua identidade como um território de liberdade artística.
O impacto na formação do olhar
Quem frequenta a Mostra sabe que não se trata apenas de ver filmes: é a construção de repertório, de lapidar o olhar e de sentir a adrenalina ao conquistar um lugar em cada sessão. De entender o mundo pelas lentes de outros, de se permitir ser tocado por perspectivas que escapam à rotina do consumo cinematográfico. A Mostra formou gerações de público e críticos. Deu palco a filmes que, sem ela, jamais teriam circulado por aqui. Criou um público que exige mais, que busca mais, que questiona mais.
O festival transformou São Paulo numa capital simbólica do cinema autoral no hemisfério sul. Tornou-se um espaço onde jovens realizadores estreiam, mestres são celebrados e o cinema pulsa como arte viva, não apenas como entretenimento, mas como num eterno agora.
Quando Leon dizia que todo filme deveria ser visto, ele não falava apenas sobre a curiosidade, mas sobre o compromisso ético de olhar o mundo por outras lentes. E talvez por isso, ao entrarmos na sala escura, sentamos como Lisbela: sozinhos, deslumbrados, prontos para nos apaixonar de novo. Porque a experiência de ver um filme nunca é apenas sobre o filme. É sobre tudo o que nos conecta a ele: o lugar, o tempo, a história que nos trouxe até ali.
E é por isso que a Mostra não termina quando os créditos sobem. Ela permanece em nós, nos filmes que indicamos aos amigos, naquela cena que não se apaga da memória, no silêncio reflexivo ao sair da sala, na vontade inquieta de voltar no dia seguinte. É quase uma tensão crescente com os créditos finais, e no silêncio ressoa a pergunta de Caetano: “E agora, o que é que eu faço da vida sem você?”
A Mostra é isso: um eterno agora. Um mergulho no escuro com os olhos bem abertos, torcendo para que o chão nunca chegue. Como dizia Lisbela: “O amor é um precipício. A gente se joga nele e torce para o chão nunca chegar.” Ir à Mostra é se jogar. E, ano após ano, descobrir que valeu a pena.