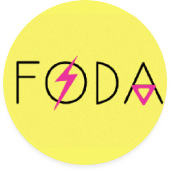Maria Eduarda Aguiar revela barreiras dos direitos LGBTQIAPN+ na Justiça brasileira
Em 2019, Maria Eduarda Aguiar foi uma das advogadas a defender a criminalização da LGBTfobia no Supremo Tribunal Federal
Por Kaio Phelipe
Maria Eduarda Aguiar é advogada e ativista. Foi a primeira advogada trans a conseguir o nome social na carteira da Ordem dos Advogados (OAB) do Rio de Janeiro, depois de uma batalha de três anos. Maria Eduarda também é uma das responsáveis pela criminalização da LGBTIfobia, atrelada à Lei do Racismo. Em julho de 2019, ao lado de outros advogados e ativistas, Duda, como também é conhecida, proferiu um discurso no Supremo Tribunal Federal expondo a violência transfóbica que acontece no Brasil.
“Era uma causa de extrema importância, onde todo o movimento LGBTQIAP+ estava acompanhando. Foi muito emocionante e a gente teve um êxito muito bom. Eu, Amanda Puchta, Paulo Iotti, Alexandre Bahia e Thiago Viana fomos os cinco advogados que fizeram a defesa no STF. Foi um momento desses que dificilmente a gente vive em nossas vidas profissionais.”
Conversamos com Maria Eduarda sobre esses fatos históricos, sobre a sua jornada na luta contra a AIDS, a atuação no Grupo Pela VIDDA e o futuro dos direitos da comunidade LGBTQIAP+.
Quando entrou para o ativismo?
Eu entrei para o ativismo em 2015, quando comecei a frequentar o Grupo Pela VIDDA, o Prepara Nem e a Casa Nem. Em 2016, comecei a fazer atendimento jurídico no GPV e, em 2017, peguei a carteira da OAB com o nome social. Quando comecei a fazer esse trabalho, a ideia era atender a população trans. Na época, eu fazia esse trabalho junto com o Marclei Guimarães, que depois saiu do grupo e foi para outro lugar. Daí comecei a pegar causas de HIV/AIDS, auxílio doença, aposentadoria e atendimentos da comunidade LGBTQIAP+ no geral. Também havia muitas causas de retificação de nome e de violência e descriminação. Então entendi que a gente precisava de um atendimento multidisciplinar. Apenas o atendimento jurídico, para quem é vítima de violência, não supre as necessidades e o acolhimento que a pessoa precisa. Vítimas de violência também precisam de apoio psicológico e de assistência social. Daí o grupo começou a pensar em projetos para dar conta dessa estrutura. Antes, eu fazia todo esse serviço sozinha e hoje já somos uma equipe. Ter uma equipe se tornou fundamental, mas para isso precisamos de recursos.
Em 2019, resolvemos resgatar uma emenda que a gente tinha com o Jean Wyllys. Logo em seguida, veio a pandemia e nós atendemos muitas pessoas que estavam sofrendo LGBTQIAPfobia durante esse período. A questão da saúde mental também foi muito marcante. Um jeito que arrumamos para continuar espalhando informação sobre direitos humanos, foi fazer live nas redes sociais. Outra ação importante foi a entrega de cestas básicas. Quando conseguimos a segunda emenda, a gente trabalhou com empregabilidade. Fizemos um relatório sobre empregabilidade de pessoas trans e apresentamos em diversos locais para tentar subsidiar políticas públicas. Esse ano a gente fez um relatório de combate à violência, trazendo estatísticas e fazendo um diagnóstico de confiabilidade que a população LGBTQIAP+ tem em instituições como a polícia e o Ministério Público. Nesse relatório, fizemos uma avaliação do serviço que a polícia presta e se ela está preparada para nos atender. Volto a dizer que minha história de ativismo começou unida com o Pela VIDDA e depois essa relação se estendeu ao Conselho Estadual e ao Conselho Estadual de Saúde LGBTI+.
Como foi o processo de inclusão do nome social na carteira da OAB?
A gente já tinha iniciado uma luta para incluir o nome social na carteira, que começou com a presidenta Dilma, sobre o decreto da lei que já concedia o nome social na esfera do âmbito federal. A OAB já estava inclinada a incluir isso no seu estatuto. Em 2016, foi aprovado, pelo Conselho Federal da OAB, a inclusão do nome social na carteira, mas isso só foi implementado em 2017, já que havia um lapso temporal de seis meses para implementar. Eu consegui realizar em 2017 e em 2018 retifiquei meus documentos. Na época, eu consegui aqui no Rio de Janeiro, a Márcia Rocha em São Paulo e a Robeyoncé em Pernambuco, foram conquistas simultâneas. Hoje em dia, incluir o nome social na OAB é um processo mais tranquilo. O que muitas vezes atrapalha a pessoa trans é a falta de informação e preparo do funcionário. Já é possível tirar a maioria das certidões pela internet e não é mais como antigamente, quando a gente não conseguia retificar o gênero. Como não tinha uma legislação que nos protegesse, esse processo ficava à livre interpretação do juiz. Por exemplo, se o juiz apontasse que uma pessoa não é trans por não ter feito cirurgia – e muitos juízes faziam esse apontamento -, só permitia a retificação do nome e não a do gênero. Além disso, demorava um tempo muito longo. Meu processo demorou três anos.
A retificação no cartório facilitou muito, mesmo com toda burocracia, você consegue fazer a retificação em noventa dias, é um tempo razoável. Algumas pessoas ainda reclamam, mas eu tive que esperar muito mais e, antes de mim, outras pessoas esperaram até cinco anos. A questão da cirurgia chegou aos tribunais e os juízes entendiam cada um de uma forma. O Superior Tribunal de Justiça, um tempo depois, entendeu que não é necessário cirurgia para uma pessoa ser trans. Isso é óbvio. Como você vai conceder direitos civis a uma pessoa só se ela tiver passado por cirurgia? Isso é roubar a cidadania de uma pessoa. É bom a gente lembrar do passado para entender as conquistas. Não queriam que a gente tivesse esse avanço e, somente em 2018, depois de muita luta, o supremo entendeu que é preciso desjudicializar o processo de retificação para pessoas trans.
Como foi a experiência de presidir o Grupo Pela VIDDA?
Atualmente, sou diretora administrativa do grupo. Eu cheguei no Pela VIDDA e o Pela VIDDA me devolveu esperanças. Eu tinha começado a fazer a minha transição e, mesmo sendo advogada, não conseguia oportunidade em nenhum lugar. Quando entrei na ONG, a gama de aprendizado e oportunidades que tive não sei se seria igual se eu estivesse em outro lugar. Estar na presidência do grupo foi uma experiência passageira. Presidir não é ser dona e ninguém é dono de nada aqui. A gente dá a nossa colaboração e depois vem outra pessoa para agregar com a colaboração dela. O grupo sempre está trabalhando junto, independente de quem seja presidente. Ter passado por isso foi maravilhoso, mas, para mim, também sempre foi importante sair da presidência e ver outras pessoas atuando nessa posição. Também presidiei o Conselho Estadual LGBTI+ e foi a mesma coisa: dei a minha contribuição e saí. Talvez eu volte em algum dia, mas sempre tendo em mente que esse lugar não pode ser ocupado sempre pela mesma pessoa. É preciso revezar, ter outros olhares e, se for necessário, voltar depois.
Consegui implantar tudo o que eu queria, o Pela VIDDA virou uma instituição de referência em relação aos direitos humanos. Não é fácil manter uma instituição não governamental em pé, os cultos são altíssimos e quem mantém tudo isso somos nós. O que eu posso dizer sobre a presidência é que é importante a gente ter pessoas trans ocupando esses espaços. A Jovanna Baby conta que, no início do movimento LGBTQIAP+, as travestis não eram aceitas em reuniões e encontros. Muita gente fala que tem LGBTQIAP+ que se esconde para não sofrer discriminação, mas e nós, pessoas trans, que não podemos esconder na maioria das vezes? A gente precisa e sempre precisou lutar para que todas as pessoas sejam respeitadas. Não adianta querer se entupir de hormônio e fazer um monte de cirurgias para ter passabilidade e parecer uma pessoa cis, isso não vai nos salvar. O que nos salva é a gente poder ser quem a gente é. Sempre lutei por isso. Vejo muitas meninas lutando por passabilidade como uma forma de proteção e, claro, elas podem e devem fazer isso da forma que quiserem, mas só através da luta que vamos conquistar direitos. A luta é coletiva e a proteção também.
Qual é o papel do Conselho Estadual LGBTI+?
O conselho foi feito para cumprir dois papéis: fiscalizar e postular políticas públicas para o Rio de Janeiro. O conselho tem um número X de membros do Estado e um número X que faz parte da sociedade civil. Ele foi criado para ser composto 60% por sociedade civil e 40% do Estado, justamente para que o Estado não sobrepujasse nas decisões. A sociedade civil é formada por instituições da comunidade LGBTQIAP+, de direitos humanos e especialistas. O Pela VIDDA faz parte como uma instituição de direitos humanos. A minha atuação no conselho é na mesa da diretoria, onde sou segunda secretária e ajudo a promover pautas, organizar comissões e outros trabalhos de gestão. É como se fosse um parlamento. Lá, a gente direciona os trabalhos e leva para a plenária votar e decidir os rumos que o conselho vai tomar. O objetivo principal, primordial e primário é a promoção de políticas públicas para a população LGBTQIAP+ em todos os âmbitos, seja na educação, na saúde, na cultura, na segurança pública, no trabalho.
Como foi defender a criminalização da LGBTQIAPfobia no STF?
Na verdade, foi uma agitação. Foi em julho de 2019 e, no dia anterior, não parava de chover no Rio de Janeiro e eu fiquei desesperada achando que o voo ia ser cancelado. Não consegui dormir nessa noite, fiquei acordada olhando para a janela, achando que não conseguiria chegar em Brasília. De tanta chuva, caiu uma barreira no Rio de Janeiro e a prefeitura lançou estado de calamidade. E eu pensando “justo no dia do julgamento”. Mas fui para o aeroporto, consegui embarcar, desci em São Paulo e depois fui para Brasília. Quando eu estava na porta do STF, fiquei sabendo que não pode entrar lá com o ombro à mostra e eu estava com um vestido que deixava o ombro de fora. Aí uma ativista do Mães Pela Diversidade me deu o blazer dela para eu poder entrar. Achei a maior palhaçada porque quando a gente chega lá, a gente coloca a toga. Entrei, peguei a toga e fiquei esperando. Fiquei muito nervosa, como todo mundo ficaria nessa situação. Afinal de contas, não era uma causa qualquer. Era uma causa de extrema importância, onde todo o movimento LGBTQIAP+ estava acompanhando.
Foi muito emocionante e a gente teve um êxito muito bom. Eu, Amanda Puchta, Paulo Iotti, Alexandre Bahia e Thiago Viana fomos os cinco advogados que fizeram a defesa no STF. Foi um momento desses que dificilmente a gente vive em nossas vidas profissionais. Não foi apenas defender enquanto um trabalho, mas sim uma causa que tem ligação direta com a gente. Depois, fiquei muito emocionada com as pessoas falando que nós representamos elas e que, naquele momento, eu fui a voz da comunidade trans. Lá, eu disse que toda essa violência contra nós está errada e que é preciso parar de nos matar. Naquele momento, eu fui a voz de quarenta anos de ativismo da comunidade trans. Eu não poderia deixar, obviamente, de estar nervosa e emocionada, mas também fiquei muito feliz com a nossa vitória.
Qual medida é fundamental para que avancemos em direitos?
Estou ingressando com um amicus curae – amigo da corte, em latim – pelo Fonatrans, na questão do uso do banheiro. É uma ação extremamente importante, que vai definir se impedir uma pessoa trans de usar o banheiro do gênero que ela se identifica gera dano moral. Também acho que a gente precisa ter uma lei que possa estabelecer uma cota no mercado de trabalho para pessoas trans em empresas que recebem incentivo fiscal. Acredito que, se uma empresa recebe isenção fiscal, uma forma de devolver para a sociedade o dinheiro que está sendo isento seria fazer uma reparação histórica com a população trans, que não teve acesso à cidadania e vive há longos anos em vulnerabilidade e em precariedade no mercado de trabalho.
Essa seria uma forma de romper com estigmas, já que as pessoas tendem a não querer contratar pessoas trans. Precisamos que esse projeto seja aprovado, é o projeto de lei 812 de 2019, da deputada estadual Renata Souza. A gente ainda não conseguiu avançar com essa pauta porque a extrema direita veta todos os projetos com conteúdo LGBTQIAP+. Qualquer projeto LGBTQIAP+ é vetado.