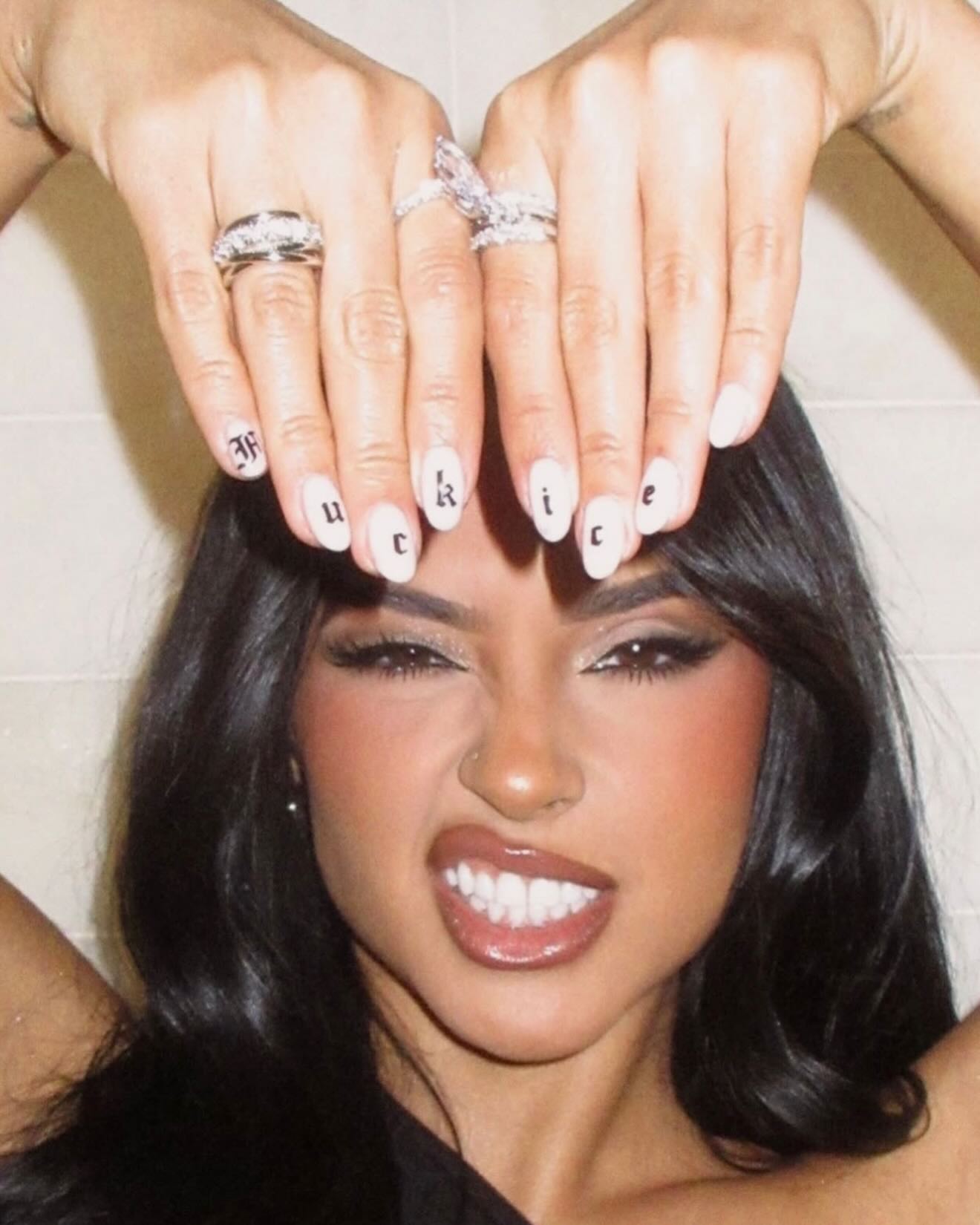Marcelo Caetano: “O cinema é um espaço de liberdade, mas também de trabalho e sobrevivência”
Diretor de Baby e Corpo Elétrico fala sobre desejo, classe e a construção de uma estética queer brasileira.
por Rafael Seara
Marcelo Caetano é um dos cineastas mais destacados e instigantes de sua geração. Mineiro radicado em São Paulo, construiu uma trajetória no cinema marcada pelas discussões sobre liberdade, desejo e trabalho. Forjado como operário do audiovisual brasileiro, ocupou múltiplas funções antes de se consolidar como diretor. Foi pesquisador e assistente em produções fundamentais do cinema contemporâneo, colaborando com nomes como Hilton Lacerda, Gabriel Mascaro, Kleber Mendonça Filho e Anna Muylaert.
Seu primeiro longa, Corpo Elétrico (2017), revelou um olhar singular sobre a cidade e o afeto entre jovens trabalhadores urbanos. Já Baby (2023), exibido na Semana da Crítica do Festival de Cannes, confirmou Marcelo como uma das vozes mais potentes do cinema nacional, explorando com delicadeza e crueza temas como desejo, juventude e liberdade em uma metrópole marginal e vibrante.
Na entrevista a seguir, concedida ao Cine Ninja, Marcelo fala sobre sua relação com São Paulo, sua formação como trabalhador do cinema e os novos projetos que desenvolve — entre eles, um documentário híbrido sobre Márcia Pantera e um filme histórico rodado em Minas Gerais. Ao longo da conversa, revela a coerência de uma obra em constante movimento, guiada por um compromisso ético e afetivo com quem filma e com o país que o cerca.
CINE NINJA: Marcelo, assistindo aos seus filmes, sempre me chama atenção como há neles um espírito extremamente paulista — mesmo sendo você mineiro. Desde os curtas até Corpo Elétrico e Baby, há uma relação muito particular com São Paulo, especialmente com o centro, esse espaço onde se cruzam migrantes, trabalhadores e pessoas em busca de um lugar na cidade. Ao mesmo tempo, são filmes em constante movimento — seus personagens estão sempre em trânsito, caminhando, se deslocando. Queria te ouvir sobre essa relação com São Paulo e de que forma esse trânsito urbano se conecta à busca de pertencimento e liberdade que atravessa seus personagens.
Marcelo Caetano: Eu filmei em São Paulo praticamente tudo o que dirigi e escrevi — moro aqui por opção há 20 anos. Sou de Belo Horizonte e vim pra cá para estudar e trabalhar. Quando cheguei, como para muitos, São Paulo oferecia o anonimato, a chance de reinventar a vida, de sonhar diferente. A cidade vincula as pessoas pelo trabalho, pelas possibilidades que oferece, especialmente econômicas e profissionais.
Na época em que saí de Belo Horizonte, não havia possibilidade de trabalhar com cinema. Hoje, felizmente, existem políticas públicas — sobretudo federais, mais até do que estaduais — que permitiram o desenvolvimento de um cinema em Minas. Mas, quando saí, era diferente. Era muito comum diretores deixarem Pernambuco, Bahia ou Minas para tentar a vida no eixo Rio–São Paulo.
O centro de São Paulo é uma região de sociabilidade LGBT histórica: desde os anos 1920 há registros de presença contínua. Fiz um curta chamado Bailão sobre essa ocupação. Sempre tentamos, ao fazer os filmes, dialogar com um público mais amplo, mais diverso. Acho curioso você dizer que é um cinema “muito paulista”, porque o que conseguimos com Baby foi algo mais expandido. É um filme coproduzido com a França e a Holanda, exibido em diversos países. Então, embora a cidade de São Paulo esteja presente, o diálogo é mais amplo.
O universo de que falo, para além da cidade, é o da população LGBT — quase como se fosse uma nação à parte, que compartilha códigos universais com diversos lugares do mundo. É um jogo duplo: duas vias sobre os mesmos assuntos e personagens. Falamos a partir desse lugar, dessa cidade, mas também de algo muito maior, que transcende a geografia.
CN: Em Baby, há um componente muito forte de liberdade: o filme começa com gritos de liberdade e parece girar em torno do que essa palavra significa para o personagem. Em um contexto marcado por desigualdade, vulnerabilidade e escassez — mas também por alegria e afeto — como você constrói essa noção de liberdade em Baby?
MC: A liberdade já me interessava em Corpo Elétrico, ao pensar jovens trabalhando e tentando viver sexualidades livres — mesmo limitadas pelo mundo do trabalho formal. Em Baby, o desafio cresce: o protagonista é alguém com muito menos privilégios, com vínculos fracos, pouca educação. A criação do Baby surgiu nesse sentido: será que essas máximas sobre amor livre e liberdade de afeto valem para alguém em situação de vulnerabilidade?
O filme contrapõe o tempo todo o que foi colocado em Corpo Elétrico. O personagem de Baby precisa construir vínculos que, às vezes, beiram a dependência ou até a exploração, justamente porque, para ele, a liberdade é muito mais difícil. Colocá-lo como egresso da Fundação Casa me permitiu refletir: que liberdade existe para quem sai de um sistema punitivo? O que é essa liberdade da porta para fora do sistema socioeducativo brasileiro? Ela realmente existe? Ou essas pessoas carregam o estigma pelo resto da vida?
No filme, a liberdade se manifesta em lampejos — dançar, não ter que trabalhar sempre, criar vínculos afetivos e, sobretudo, no movimento físico. O personagem Ronaldo alimenta essa ideia de movimento: não só para sobreviver, mas para não petrificar, para driblar perigos. Vejo o Baby como alguém cujo grande aprendizado é a liberdade pelo movimento. É o movimento que possibilita buscar, ainda que por instantes, essa sensação de liberdade — mesmo sabendo que, socialmente e concretamente, essa liberdade plena é quase inalcançável para alguém como ele.
CN: Seus personagens são queer, LGBT, mas também trabalhadores, migrantes, residentes à margem do poder. Há, nos seus filmes, uma tentativa clara de não reduzi-los à identidade. Porém, mercado e crítica tendem a enquadrar filmes de protagonismo LGBT como “cinema queer”. Como você lida com esse rótulo?
MC: Eu trabalho com personagens LGBT, mas Baby teve alcance além desse nicho. A gente conseguiu algo raro: um filme LGBT brasileiro dentro do Festival de Cannes — e circulamos por festivais queer, festivais “gerais” e salas comerciais.
Baby dialoga com dois públicos: o LGBT e o do cinema de arte. Cada nicho oferece ganhos e limitações. Esse segundo nicho é muito ligado às grandes seleções de festivais e ao mercado que gira em torno do nome de um autor ou diretora — o chamado cinema autoral. O filme conseguiu circular entre esses dois espaços, o que foi muito positivo.
O que torço é que o cinema LGBT ganhe público sem perder complexidade. O Homem com H (2025), sobre Ney Matogrosso, alcançou público grande sem concessões à sexualidade do personagem — algo que, em outras biografias de figuras LGBTs no Brasil, às vezes acontecia, como no caso de Cazuza. O Homem com H foi um filme corajoso e, acredito, abre uma porta importante.
CN: Você comentou sobre o percurso de Baby em festivais. Como essa recepção varia entre países com formações cinematográficas distintas?
MC: Baby esteve em muitos festivais na América do Norte, Europa, Ásia e no Brasil, e foi adquirido por 24 países para exibição comercial.
Mas festivais têm público cinéfilo; salas comerciais têm outro perfil; e cada país responde de modo distinto. Na França, por exemplo, o filme teve projeção ampla e cobertura forte na imprensa; nos EUA, ingressar salas com um filme queer é mais difícil. Essas diferenças exigem boas distribuidoras e agentes de vendas, que lutem pelo filme em mercados complexos.
Sobre streaming: o filme fez turnê em salas antes de ir para as plataformas. Baby ficou semanas em cartaz em países como França e Holanda. No Brasil, ele ainda circula em salas e cineclubes — recentemente liberamos uma sessão para um cineclube no Piauí. Eu valorizo muito esse espaço coletivo, onde as pessoas veem o filme juntas e podem discutir depois. É para isso que eu faço cinema: para gerar encontros, conversas, trocas presenciais.
Gosto da experiência compartilhada. Já dirigi duas séries e, por exemplo, a resposta do público nas redes não me mobiliza. Não me interessa ter uma reação no Twitter. Esse tipo de retorno é muito distante. Quando o filme chega às casas das pessoas, esse contato quase desaparece. Para saber o que estão achando, eu teria que entrar no Letterboxd, no Twitter… e, sinceramente, a internet me cansa — é um ambiente muito anônimo, desinteressante.
Por isso, tento priorizar e lutar para que o filme seja exibido em sala. Baby foi pensado para o espaço comunitário da sala de cinema — é ali que o filme realmente acontece.
CN: De Corpo Elétrico para Baby, é perceptível uma maturidade no modo de contar, no ritmo do roteiro, na estrutura. Baby foi contemplado por um edital de desenvolvimento — algo cada vez mais raro. Qual o papel dessas políticas para que um filme amadureça com pesquisa e estrutura?
MC: Faz toda a diferença. Corpo Elétrico foi feito sem edital de desenvolvimento. Eu precisava trabalhar em outras funções e não tinha dedicação integral. Com Baby, tive tempo para escrever, reescrever, investigar. Claro que também há uma maturidade natural — sete anos se passaram, envelheci, fiz outros trabalhos, repensei muito minha concepção de cinema.
Desenvolvimento envolve mais do que escrita: inclui mercados, consultorias, coprodução, distribuição desde o início. Isso pode mudar o destino de um filme. Hoje vivemos um momento em que editais como esses são escassos.
O que define um filme são seus encontros — com equipe, atores, produtores e também o acaso. Em Baby, esses encontros foram muito benéficos.
CN: Você é um trabalhador do cinema, já passou por várias funções e colaborações. Como essas experiências moldaram sua visão como diretor?
MC: Comecei no documentário, numa produtora ligada a Kiko Goifman, Cláudia Priscila e Jurandir Müller. Fiquei bastante tempo com eles — foi minha grande escola. Sou formado em Ciências Sociais, com passagem pelo Direito; me interessava muito por justiça e liberdade — e as Ciências Sociais acabaram me levando naturalmente ao documentário.
Minha estreia na ficção foi como assistente de direção em Tatuagem, de Hilton Lacerda. Convivi com atores, acompanhei a escrita do roteiro, o casting. Tatuagem foi minha grande escola. Descobri ali uma forma de fazer cinema que me interessava muito: um cinema de afeto, coletivo, onde ninguém estava ali “pelo job”.
Trabalhei com Gabriel Mascaro, fiz assistência em Boi Neon, e com preparadoras como Fátima Toledo, que me ajudaram no trabalho de corpo e pulsão. Colaborei com Kleber Mendonça Filho nos castings de Aquarius, Bacurau e O Agente Secreto. Também fui assistente de Anna Muylaert por muitos anos — ali aprendi sobre estrutura narrativa, personagens contraditórios, improviso generoso.
Até hoje colaboro em projetos de outros cineastas. O aprendizado nunca termina. Esse modo coletivo é uma particularidade do cinema brasileiro. No cinema francês, por exemplo, isso quase não existe. Aqui, existe essa flexibilidade, que considero vital.
CN: Por que você acha que isso acontece no Brasil — essa troca horizontal entre cineastas?
MC: Em parte, porque tivemos carência de ensino formal por longos períodos. Foi só nos governos do PT que começaram a surgir cursos de audiovisual nas universidades federais. Antes, o acesso era muito elitizado. As pessoas precisavam se unir para produzir, aprender umas com as outras.
Mas também tem a ver com o próprio funcionamento do mercado. Fazer um bom filme no Brasil não garante que você consiga dirigir outro logo depois. Mesmo com reconhecimento, há longos intervalos entre um projeto e outro. Então acabamos trabalhando nos filmes uns dos outros — e isso cria um senso de comunidade.
Por isso continuo colaborando. Estar dentro desse circuito me permite sobreviver, crescer e aprender.
CN: Para fechar, gostaria de falar de futuro. Seus filmes até agora trataram da experiência urbana, da vida no centro de São Paulo, do trabalho e dos desejos da rua. Agora parece haver um deslocamento — um retorno às origens em Minas Gerais, com um novo projeto.
MC: Estou desenvolvendo três projetos atualmente. Primeiro, um documentário híbrido sobre a drag Márcia Pantera, a ser filmado em São Paulo. Já temos parte do financiamento e estamos batalhando por coproduções. Em seguida, um filme em Minas, com protagonismo gay e lésbico — um olhar histórico sobre a “formação da bicha brasileira”. E um terceiro projeto, mais comercial, em parceria com uma produtora grande de São Paulo.
O cinema independente é um lugar seguro — você escreve, faz o casting, monta, tudo é seu. O cinema comercial, pra mim, tem o interesse de me tirar da zona de conforto e buscar novos tipos de interlocução.
Os filmes, curiosamente, se conectam. O projeto sobre Márcia Pantera e o mais comercial se passam na mesma época em São Paulo, têm até personagens que se repetem, embora sejam obras completamente diferentes. O filme em Minas também dialoga com os anteriores, especialmente pela presença da liberdade — tema que atravessa toda minha filmografia.
A novidade é a dimensão histórica. A questão que me move agora é: o que vale revisitar no passado para entender o hoje? Quando fui jurado da Queer Palm, em Cannes, notei a quantidade de filmes queer históricos e percebi que não se trata de nostalgia, mas de reconhecimento — uma tentativa de iluminar o presente a partir do passado.