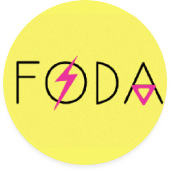Justiça por Leo: crimes em apps de encontro nos ensinam sobre impactos da LGBTfobia de forma mais ampla
Episódios de violência como o assassinato de jovem gay após sofrer emboscada por aplicativo de encontro é exemplo de como a LGBTfobia muitas vezes nos mata de forma discreta e fora do meio
Por Rafael Gonzaga
Na noite de 13 de junho deste ano, um rapaz gay chamado Leo desapareceu após marcar um date através de um aplicativo de encontros usado por pessoas LGBTQIAPN+, com prevalência de pessoas trans, homens gays e bissexuais. Rapidamente seu desaparecimento foi notado: seguindo uma espécie de protocolo de segurança criado e informalmente compartilhado no boca a boca entre os membros da comunidade, Leonardo Rodrigues Nunes, de 24 anos, enviou o perfil do rapaz com quem se encontraria a uma amiga e pediu a ela para que retomasse contato com ele em um horário pré-estipulado. Ela entrou em contato como combinado, ele não respondeu. Leo foi alvo de uma emboscada e, no dia seguinte, foi encontrado já sem vida em um hospital: foi assassinado por arma de fogo. Os relatos dizem que ele foi achado ferido na zona sul de São Paulo e levado para o pronto-socorro do Hospital Ipiranga, mas não resistiu. E o debate que apareceu nas redes sociais, onde o termo “JUSTIÇA POR LEO” chegou a ser um dos mais citados, foi: a morte desse rapaz foi ou não uma morte por homofobia?
A discussão foi polarizada nas threads criadas nas redes sociais. De um lado, alguns defendiam que apontar intolerância em um crime supostamente comum de latrocínio, ou seja, de roubo com resultado de morte, banalizaria a tipificação da homotransfobia. Do outro lado, o argumento era que pessoas cis-hétero não estariam sujeitas ao que aconteceu com Leo porque o crime contava com uma série de especificidades consequentes da LGBTfobia enquanto estrutura social. A diferença das duas análises está na profundidade: a primeira, superficial, ignora detalhes importantes de como operam mecanismos sociais de opressão. Fazendo uma observação mais cuidadosa do caso, fica óbvio que o que matou Leo foi, sim, a homofobia sob a qual todos nós somos socializados.
Leo, inclusive, não foi o único caso emblemático do tipo. Em 2022, um serial killer de homossexuais chamado José Tiago Correia Soroka foi condenado a 104 anos de prisão por latrocínio, roubo agravado, extorsão e homofobia. No julgamento, ele próprio confessou três crimes, mas vários outros ainda estavam sendo investigados sob sua autoria. Como ele fazia suas vítimas? Através de aplicativos de relacionamento. Neste ano, em São Paulo, outros nove casos de roubos ou tentativas semelhantes a que tirou a vida de Leo foram identificados pela polícia: em todos eles, os jovens também foram atraídos após marcar encontros através de aplicativos de relacionamento voltados para o público gay.
É importante termos a compreensão de que LGBTfobia não é só o ato de odiar pessoas LGBT+, mas todo o processo que cria um sistema que germina, alimenta e sustenta esse ódio. Esse ódio não surge do nada, e sim é construído de forma bastante sofisticada: a homotransfobia é uma estrutura socializadora que se desdobra em inúmeras formas no nosso dia a dia. A LGBTfobia está no desejo dos pais de que o filho seja cis-hétero ainda na barriga da mãe, está na piada que trata uma orientação sexual de forma vexatória, está em vários lugares. A LGBTfobia se torna uma estrutura tão sólida que obviamente impacta as dinâmicas sociais em todas as escalas possíveis da vida de quem é LGBT+.
Então vamos para o primeiro de dois importantes pontos: os aplicativos de encontro voltados principalmente para homens gays e bissexuais. Algo que chama imediatamente a atenção quando se abre um desses aplicativos é que grande parte das pessoas ali sequer coloca a própria foto. Indo além, a próxima coisa que se nota é que parte expressiva dos perfis opera com um marcador de sigilo. Se você abrir um aplicativo semelhante para pessoas cis-heterossexuais, dificilmente verá algo semelhante; isso porque a necessidade de exercer a própria afetividade ou sexualidade de forma sigilosa não faz parte das relações cis-heterossexuais. Essa manutenção das relações afetivas e sexuais entre pessoas LGBT+ nesse lugar de clandestinidade é fruto – adivinha só! – do processo de socialização LGBTfóbico.
Pessoas fora do armário tendem a pensar em outras pessoas LGBT+ como aquelas que fazem parte do convívio “dentro do meio” delas, mas é quando abrimos um aplicativo como o Grindr que visualizamos que uma parcela muito expressiva do que poderia compor a comunidade LGBTQIAPN+ ainda se mantém escondida por conta das imposições socializadoras cis-heteronormativas. Ou seja: a própria forma como se dão as interações através de aplicativos de encontro para pessoas LGBT+ é determinada pela LGBTfobia que estrutura como essas pessoas se sentem seguras e confortáveis para se relacionarem. E esse contato acaba sendo pautado pela superficialidade, já que essas pessoas muitas vezes usam os aplicativos como válvula de escape das demandas sexuais, mas, evitando o desenvolvimento de laços afetivos. Essa lógica, inclusive, impacta involuntariamente mesmo aquele usuário bem resolvido e bem posicionado socialmente acerca da própria sexualidade.
É nesse tipo de aplicativo que nós conseguimos ter dimensão do quanto as estimativas do percentual LGBT+ da sociedade são subestimadas, do quão maior poderia ser a comunidade LGBT+ se as pessoas se sentissem seguras e confortáveis para vivenciar de forma plena suas orientações e identidades de gênero em um cenário que não as empurrasse para a “discrição fora do meio”. Tudo isso para dizer que, sim: um aplicativo de encontros voltado para pessoas trans, gays e bissexuais onde esses encontros são nivelados pela clandestinidade – e isso sequer é questionado enquanto algo problemático – é sintomático de uma sociedade nivelada afetiva e sexualmente pela LGBTfobia.
Mas se esse era o primeiro ponto, vamos ao segundo. Recentemente, o jornal Folha de São Paulo fez uma matéria de primeira página falando sobre os cinco anos da criminalização da homotransfobia através da inclusão desse tipo de crime de ódio dentro da Lei de Racismo por decisão do Supremo Tribunal Federal; o mote da notícia era justamente que, em cinco anos, crimes motivados por intolerância contra pessoas LGBT+ continuam não sendo adequadamente punidos ou mesmo registrados como manda a lei. Não é à toa, portanto, que criminosos vejam a comunidade LGBT+ enquanto um filão de oportunidade: é mais fácil cometer crimes contra determinado grupo social quando se existe um consenso coletivo de que crimes contra esse grupo não são punidos. O descaso, a desimportância, a negligência policial com crimes contra pessoas LGBT+ também é um reflexo da LGBTfobia que situa socialmente esses corpos enquanto corpos que valem menos, estando, portanto, em um lugar de maior vulnerabilidade. E isso fica mais óbvio quando pensamos que os próprios aplicativos não criam de forma orgânica mecanismos que ajudem a proteger os próprios usuários ou que o poder público não estabeleça medidas coibindo a ação de criminosos contra essas pessoas.
Hoje nós já conseguimos entender que violências contra indivíduos em função do grupo social no qual estão inseridos acontecem porque todo esse grupo social sofre prejuízos sistemáticos no contexto da coletividade. Mulheres serem remuneradas de forma inferior a homens é uma consequência do machismo, pessoas negras serem mais frequentemente vítimas da violência policial e do encarceramento é uma consequência do racismo. Uma das explicações de porque entendemos isso com mais facilidade é que o combate ao machismo e ao racismo já estão institucionalizados em algum grau, através de leis como a própria Lei do Racismo ou a Lei Maria da Penha e de organismos como o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Mulheres – o combate à LGBTfobia de forma institucionalizada ainda engatinha quando comparados a essas duas outras formas de opressão, visto que sequer existe uma lei nacional específica que trate dela. É isso, inclusive, que causa a confusão lá do começo do texto sobre algo que é obviamente fruto da socialização LGBTfóbica ser ou não fruto dela.
Não dá para dizer que Léo não foi vitimado pelo sistema LGBTfóbico quando todos os contextos que levaram à sua morte poderiam ter sido diferentes se sua orientação sexual não fosse historicamente marginalizada, se as relações homoafetivas não fossem continuamente empurradas para a clandestinidade e se as instituições se debruçassem de forma séria em resolver a LGBTfobia que, por exemplo, coloca o Brasil há 15 anos no topo do ranking de mortes de pessoas trans e travestis. Léo foi vítima da LGBTfobia porque a LGBTfobia não é só a bala que sai da arma e tira a vida de uma pessoa LGBT+: os antecedentes que levam ao momento em que a arma foi apontada para ele já evidenciam o caráter LGBTfóbico desse tipo de crime.