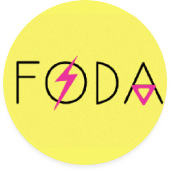Filmar o que se vive: Allan Deberton fala sobre cinema LGBTQIA+ e o poder de narrar o Nordeste
Com filmes que atravessam identidade, afeto e memória, diretor cearense fala sobre seu processo criativo, próximos projetos e as mudanças no cinema queer brasileiro
Por Kaio Phelipe
Nascido no Ceará, Allan Deberton lançou seu primeiro filme, o curta Doce de coco, em 2010. Em 2013 lançou o curta O melhor amigo, com Jesuíta Barbosa como protagonista. Seu primeiro longa-metragem, Pacarrete, lançado em 2019, conquistou diversos prêmios. Recentemente, Allan esteve nos cinemas com o longa O melhor amigo, uma comédia musical inspirada no curta de 2013.
Em entrevista exclusiva, Allan contou um pouco sobre o sucesso e a repercussão do seu último longa, que agora se encontra disponível na Globoplay. O diretor, que faz de suas narrativas uma ode ao Ceará e ao Nordeste, abordou a importância de artistas nordestinos no cinema brasileiro, a diferença entre lançar filmes LGBTQIAPN+ em 2013 e 2025 e falou de seus próximos projetos, os filmes Feito Pipa e Adoção.
Qual é a importância do Ceará e do Nordeste para a construção das suas narrativas?
Me sinto muito interessado em trazer uma abordagem específica e com olhar terreno sobre o lugar onde ocupo e pertenço. O Brasil é um país muito extenso. Como sou do interior do Ceará e tive a chance de estudar e morar fora daqui, esse desejo de voltar às origens e contribuir profissionalmente, realizando projetos, é uma ocupação de espaço. E mais do que isso: é estar realmente íntimo dessas histórias. Meus filmes brotam das narrativas desse lugar. São histórias onde coloco o Ceará e o Nordeste como locações principais.
Eu realmente acho que ainda podemos mostrar diversos lugares do Nordeste brasileiro sem se autossabotar, conciliando com projetos em outros lugares. Eu mesmo já dirigi episódios de uma série em São Paulo.
Mas estar em casa é muito importante. Não sei se é porque sou canceriano, talvez seja. Mas eu percebo o conforto e a beleza de estar no lugar onde posso fazer coisas para contribuir e também assistir o que está acontecendo.
É sempre muito rico perceber que os realizadores no Brasil empoderam seus espaços fazendo com que as diversas histórias brasileiras se conectem. Percebo que cada vez menos existe estranhamento com locações que fogem do eixo Rio–São Paulo. O Brasil internacionalizou as cidades do interior. Tem uma série de filmes feitos longe do sudeste que estão ultrapassando barreiras, ganhando prêmios e circulando em grandes festivais. Boa parte do melhor que tem sido feito no Brasil está nesses lugares, que só recentemente tiverem a oportunidade de serem narrados por seus próprios artistas.
Isso também evidencia a importância de investimento público e do fomento ao audiovisual.
Não é mais necessário buscar o êxodo para praticar a arte. Não é mais preciso sair de um lugar. Existe espaço-tempo para qualquer um e qualquer lugar.
Quando houver desejo de intercâmbio físico, tudo bem. Conheço muitos artistas que se sediam no lugar de pertencimento, e se deslocam quando vão trabalhar. Quando aparece o convite, eles vão, mas voltam. O lugar do trânsito é muito saudável, mas antes a gente vivia em um contexto onde o êxodo era necessário. Eu mesmo tive esse momento durante a faculdade.
Naquela época, não existia faculdade de cinema no Ceará. Durante os seis primeiros meses estudando no Rio de Janeiro, abriu uma faculdade aqui. Logo depois, abriu a segunda. Fico muito feliz de ver que o acesso à formação está mais fácil. Espero ver muitos outros realizadores surgindo.
Há diferença entre lançar um filme gay em 2013 e lançar um filme gay em 2025?
Existe uma super diferença. Percebi um amadurecimento das questões, uma mudança de comportamento em relação às temáticas das narrativas.
Quando lancei o curta em 2013, era muito presente a questão do preconceito, o armário, o sentimento velado e contido, a sensação de dor e infelicidade. Percebi que a conexão com o público acontecia por conta desse recorte. As pessoas se autossabotavam em suas identidades e na busca de felicidade. Era muito difícil propor um filme que dissesse “eu sou assim, quero ser assim e vou ser feliz assim”.
Tendo passado esse momento de desencontro individual, lançando agora o longa que começou a ser escrito em 2016, foi muito importante ter reorganizado algumas perspectivas da narrativa até o filme ser rodado em 2022. No longa, eu quis trazer outras formas pra conseguir me comunicar mais com a comunidade e com uma plateia maior. E vi que o público prestigiou um filme que é sobre alegria e sorriso no rosto.
Uma vez que a gente tenha superado alguns traumas – mas longe de dizer que estamos bem, ainda temos muitas questões para resolver dentro da comunidade LGBTQIAPN+ –, acho que a gente precisa se dar ao luxo de trabalhar outras histórias e colocar personagens dentro de outras temáticas.

Fazer um filme LGBTQIAPN+ também passa pela ideia de contribuir para uma causa?
Com certeza. Faz parte do valor humano entender que tudo o que a gente supera nos fortalece. Entender que o outro está passando por uma situação que você conhece, nos ajuda a ter empatia.
A nossa vivência é sempre rica de aprendizado, a gente carrega muitos traumas psicológicos. Cada vez mais entendo que a comunidade LGBTQIAPN+ precisa ser mais forte e potente. Parece que sempre estamos em um lugar de provação e, assim, precisamos ser mais potentes em aspectos comportamentais, profissionais, financeiros, estéticos. A busca por esses padrões traz muito trauma psicológico, e muitas vezes essa é a forma como nos fundamentamos dentro da própria comunidade.
Acho muito bonito quando a gente se constrói em um lugar de empatia coletiva. E percebo que é uma coisa muito possível dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Por exemplo, a gente sempre prefere ser atendido por profissionais que também são da comunidade. Isso faz com que a gente se fortaleça em conexões reais. Conheço muita gente que faz terapia e prefere fazer com um profissional LGBTQIAPN+, o que dá oportunidade de emprego e nos permite dialogar de forma mais verdadeira.
Entendendo que tenho esse lugar de fala, tento colocar essa voz no meu cinema. O curta-metragem se baseou em experiências que eu vivi.
Mas, ao mesmo tempo, as coisas se entrecortam com a ficção e lugares onde consigo transitar. Existe uma verdade que torna possível o encontro com outras locações, personagens e gerações.
Por exemplo, tenho um projeto que é sobre um personagem de terceira idade, da qual não faço parte e meus amigos mais próximos também não. Estou escrevendo essa história com um personagem que tem oitenta e poucos anos. Exige pesquisa e muita dedicação, mas também já fiz Pacarrete, onde trabalhei a questão do etarismo.
Também tenho um filme pra realizar ainda esse ano, chamado Adoção. Não é um filme autobiográfico, mas tem uma verdade intrínseca com a experiência que tive ao adotar uma criança sendo um homem gay. É um filme que vai começar a ser rodado esse ano, e acho que é um tema inédito.
A gente tem percebido as novas composições de família. Muitas crianças são adotadas por famílias diferenciadas. E a gente acessa essas histórias em um lugar muito instagramável, onde existe a explicitação da felicidade, que é a formação da família e dos desafios superados. Mas eu quero falar sobre os dilemas internos desses processos, apontar questões e dilemas mais reais.
Como foi o processo de adoção para você?
Adotei uma criança como pai solo. Entrei na fila sozinho. Quando a minha criança chegou, eu estava namorando – que é o homem com quem me casei. Então, a criança era responsabilidade minha. E foi uma experiência muito forte, muito única. O lugar comum seria essa criança ser adotada por um casal constituído por homem e mulher.
Estar na pele de um pai solo me trouxe muito o sentimento de dúvida e também de dor. De felicididade também, claro, mas de muita confusão. Lidar com a vida de outro ser humano é muita responsabilidade, e isso também muda o destino da nossa própria vida.
Adoção vai ser um filme que vai falar sobre isso e vai tentar fazer campanha pra beleza que é a adoção.
Além de Adoção, quais serão seus próximos projetos?
Estou pré-produzindo o Adoção.
Mas, no ano passado, filmei um longa chamado Feito pipa, um drama familiar de um menino negro, que mora com a avó. O menino, Gugu, quer ser jogador de futebol, e ele vai percebendo que a avó está tendo questões de esquecimento e pode estar com Alzheimer. O menino tenta de tudo para esconder a doença para não ter que morar com o pai homofóbico, que não o aceito como é. Esse projeto foi rodado no ano passado e agora está no momento de pós-produção. A ideia é lançar no segundo semestre desse ano ou no início do ano que vem.
Depois de Feito pipa e Adoção, vou trabalhar com alguns projetos que não tem o foco em narrativas LGBTQIAPN+, serão outras histórias. Mas acho que essa temática sempre vai estar me atravessando em vários aspectos.
Poderia indicar três filmes brasileiros?
A natureza das coisas invisíveis, de uma cineasta contemporânea, a Rafaela Camelo, que foi pro Festival de Berlim. Ela é uma diretora maravilhosa, me encantei com o seu primeiro curta, A arte de andar pelas ruas de Brasília, que ganhou como melhor curta no Festival de Brasília. A natureza das coisas invisíveis é o seu primeiro longa. A Rafaela é uma diretora pra quem eu torço muito.
Também indico Baby, do Marcelo Caetano.
E outro que indico é Salão de baile, que repercutiu muito bem, dirigido por Juru e Vitã, com quem estudei na UFF. É um documentário que trata do universo Ballroom, e eu amo filme com dança.
Indico ainda qualquer filme do Fabio Meira.