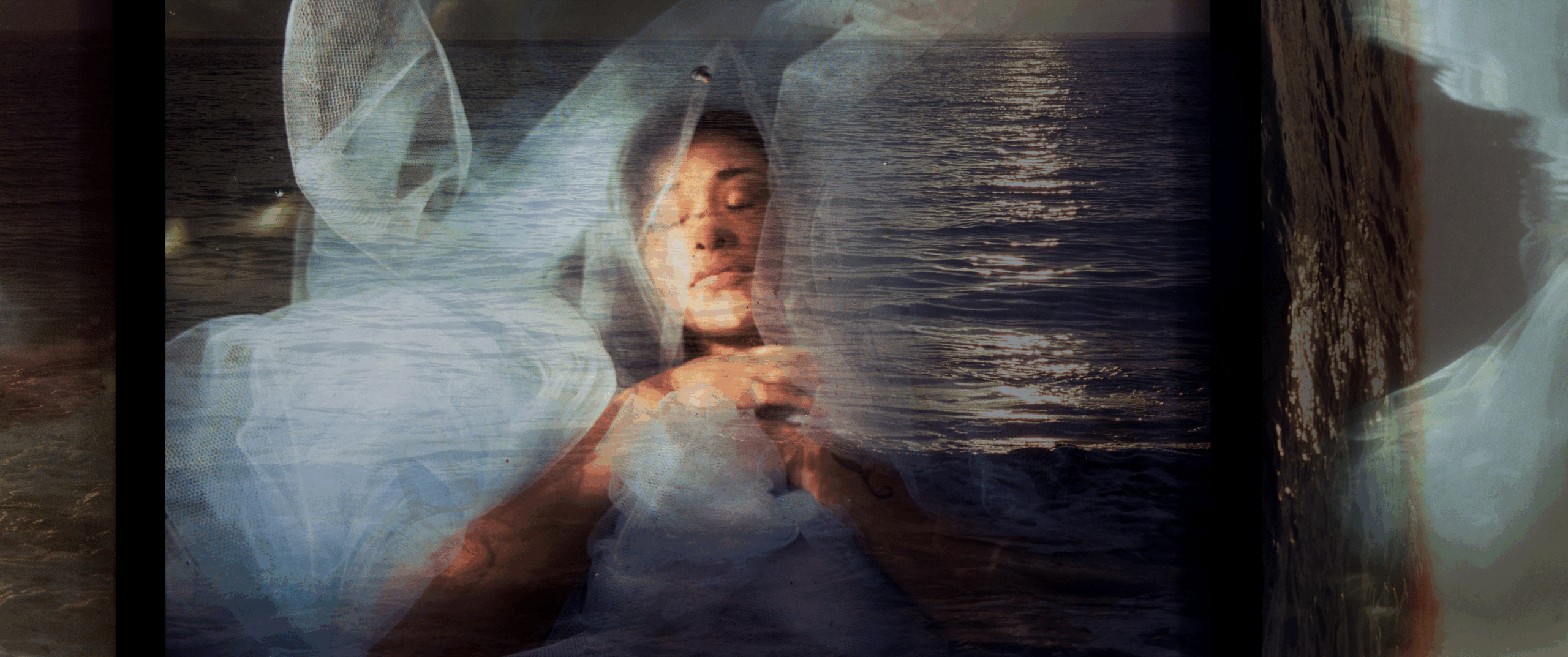Entre raízes e fumaça: o legado ecológico de ‘Princesa Mononoke’
Trinta anos depois, a animação retorna em IMAX no ano da COP Belém, lembrando que a natureza e a humanidade só sobrevivem se aprendermos a coexistir
Por Hyader Epaminondas
Como aperitivo para o Ghibli Fest, que chega aos cinemas brasileiros no próximo mês, Princesa Mononoke retorna em IMAX para lembrar por que Hayao Miyazaki é mais que um mestre da animação: é um cronista idealista do que perdemos e do que ainda podemos salvar. Se, no lançamento original, o diretor já expunha o custo humano e ambiental da industrialização, hoje sua fábula soa como um alarme que deixamos tocar por tempo demais. É uma alegoria em que a devastação atinge tanto a natureza quanto a própria condição humana.
Num presente em que a crise climática ainda é tratada como questão periférica pelos governos, enquanto guerras e disputas de poder monopolizam as atenções, a volta deste clássico aos cinemas brasileiros ganha um peso renovado. A animação desenha um ciclo de ódio e suas consequências, recusando o maniqueísmo simplista do bem contra o mal. Ao contrário, mostra como o rancor coletivo pode cegar as ações diante da urgência ecológica, transformando essa fantasia feudal em uma reflexão sobre o valor da vida: humana, natural e espiritual.
Em um ano em que o Brasil sediará a COP, evento para debater as urgências ambientais, as redes sociais expõem um paradoxo constrangedor: cidades-sede inflacionam absurdamente as taxas de hospedagem, afastando justamente público e especialistas que deveriam estar no centro das conversas que decidirão o futuro do planeta.
Miyazaki nunca tratou a fantasia como fuga; para ele, criaturas místicas e deuses antigos não são metáforas distantes, mas reflexos das tensões reais do mundo. O desfecho dessa história não oferece reconciliação, apenas abertura para um convite a ouvir o que foi silenciado por gerações sobre as falácias do progresso tecnológico. Quase três décadas após o lançamento, se em 1997 a animação já alertava sobre o custo da industrialização, em 2025 a mensagem ecoa em um planeta marcado por incêndios, secas e disputas por recursos.
O formato em IMAX amplia a densidade das florestas, a presença das criaturas, a tensão das batalhas, e árvores respiram junto com o ritmo da animação; a neblina engole a sala, e o som das lâminas corta mais do que o ar. É como se a sala de cinema fosse tomada por um ecossistema inteiro, com seu silêncio ameaçador e seus estrondos súbitos, não apenas como espetáculo, mas como lembrete incômodo daquilo que preferimos esquecer quando chamamos devastação de progresso.
Conflito, feridas e permanência
O contraste entre a suavidade dos campos e o peso do ferro, a transição das paisagens naturais para estruturas industriais, a maneira como a luz atravessa a neblina ou reflete nas espadas. O desenho de som, minucioso, dá corpo aos movimentos da floresta e peso às ações humanas. Esse cuidado técnico não é gratuito: sustenta a mensagem central de Miyazaki, onde a natureza não é pano de fundo, mas personagem com agência, memória e humor próprio.
O conflito central não se limita à guerra entre humanos e divindades-animais. É o embate entre pulsões de vida e de morte, entre a possibilidade de coexistir e o impulso de dominar. Também ecoa como um retrato daquilo que Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida, onde nada permanece sólido: relações, promessas, vínculos com a terra. Tudo escorre, e o que não se adapta é descartado como resíduo.
Nesse fluxo, a natureza deixa de ser espaço sagrado e se converte em matéria-prima a ser explorada, enquanto os deuses que a protegem tornam-se obstáculos a serem vencidos. O que resiste precisa justificar sua permanência, como se a própria vida tivesse que negociar seu valor em meio à lógica produtivista. Miyazaki transforma essa fricção em uma parábola sobre o esvaziamento espiritual provocado pela ânsia do progresso, lembrando que coexistir não é uma utopia, mas uma urgência diante de um mundo que insiste em colocar tudo sob a medida da utilidade.
Lady Eboshi comanda a Cidade do Ferro como quem acredita poder impor ordem ao indomável. Seu projeto transforma a natureza em engrenagem e fumaça, moldando montanhas à imagem da eficiência humana. Miyazaki, porém, é implacável em mostrar forças que não aceitam domesticação. O instinto selvagem, a fúria dos deuses, a resistência da mata: tudo retorna com dentes afiados. Não para se explicar, mas para ser temido.
A maldição que corrói o braço de Ashitaka é o sintoma físico de um trauma que atravessa mundos. Ele não é herói clássico, mas ponte, testemunha e eixo narrativo, filtrando a fantasia por um olhar acolhedor. Carrega a dor de uma era em ruína e, ainda assim, busca equilíbrio entre forças inconciliáveis. Sua jornada ecoa a pergunta que não conseguimos responder: é possível curar sem destruir?
A resposta surge em San, que encarna a recusa em aceitar a separação entre humanidade e natureza. Criada por lobos, sua identidade não cabe em categorias simples: guerreira feroz, mas também guardiã ferida por uma guerra que não escolheu. San não defende apenas a floresta como território físico, mas a dignidade de um mundo em que animais, árvores e rios têm tanto direito à existência quanto cidades e espadas.
Sua relação com Ashitaka não é romance no sentido tradicional, mas encontro de fronteiras: ela mostra que não há cura possível se insistirmos em tratar a natureza como recurso e não como família. Talvez esteja aí o maior poder da animação: lembrar que o futuro temido já começou, e que a ferida que corrói o protagonista é a mesma que se abre no planeta: lenta, envenenada, irreversível se não houver mudança. O gesto de escuta e compreensão entre eles sugere que a salvação não nasce da vitória de um lado sobre o outro, mas da capacidade de reconhecer a interdependência que sustenta todas as formas de vida.
No ano em que a COP desembarca no Brasil, a floresta de Miyazaki não é apenas metáfora, mas convocação. Estamos todos dentro do quadro, entre raízes e fumaça, decidindo se seremos parte da cura ou do corte.