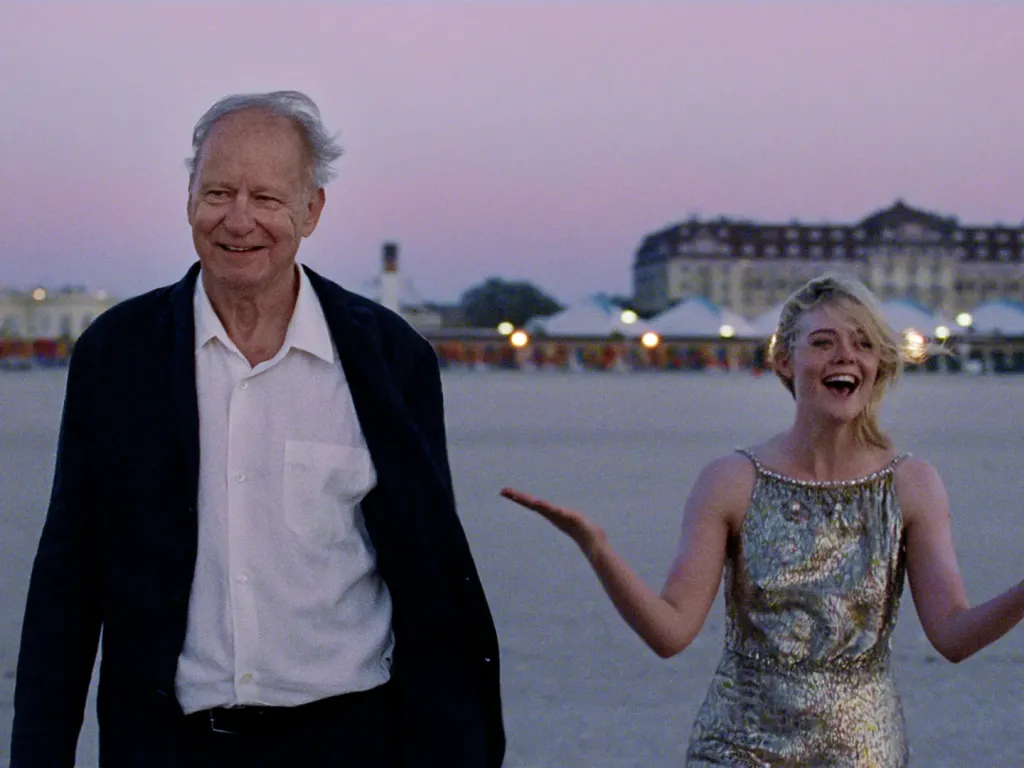‘Café, Pepi e Limão’: A necessidade do cuidado com a representação da cultura periférica
Filme está na mostra competitiva de longas do 31º Festival de Cinema de Vitória
Por Lilianna Bernartt
Pensar a cultura periférica através de narrativas de perpetuação da violência urbana, miséria, opressão, por muito tempo foram elementos chave na representação cinematográfica. Temos incontáveis filmes basilados na “opressão pela opressão”, no reforço de estereótipos e reprodução cíclica da barbárie.
Corpos negros, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, indígenas, foram representados no cinema majoritariamente de forma opressiva. “Café, Pepi e Limão”, dirigido por Adler Kibe Paz e Pedro Léo, e exibido durante o 31º Festival de Cinema de Vitória, narra a trajetória de três crianças marginalizadas da periferia da Bahia, que se juntam e permanecem unidos a todos os tipos de situações opressivas imagináveis, oriundas de uma vida sem qualquer resquício de esperança.
Sem qualquer resquício de esperança.
A repetição dessa frase aqui se aplica à reverberação proposta – durante e pós filme – que remete ao sublinhamento da falta de perspectiva de mudança. O longa peca por escolhas problemáticas no que diz respeito à representação periférica. O pacote de estereótipos é completo: miséria, vício, racismo, tráfico de drogas, preconceito, homofobia, estupro, sexualização da mulher, prostituição, fracasso, perda da infância, falta de oportunidade; é possível dar um “check” nos tópicos que o filme buscar dar conta.
Dentro desse pensamento, me recordei de uma fala de Adirley Queirós, um dos cineastas mais potentes e criativos da atualidade, que aborda com primazia a periferia e crítica social, em que ele desenvolve a afirmativa de que a forma como as minorias periféricas são representadas no nosso cinema acaba sendo, por si, mais opressora do que a realidade, a partir do momento em que você reforça a opressão existente, não deixando espaços para quaisquer perspectivas de mudança de cenário nesse sentido. A opressão sofrida fora das telas simplesmente é transferida para as telas, gerando um sentimento niilista.
Não se trata de reivindicar a glamourização de uma realidade hedionda, mas sim, repensar o tipo de proposta cinematográfica que possa transgredir o mero simulacro de um cenário de barbárie. É sabido que a evolução sócio-política-econômica de uma sociedade é historicamente díspare em termos temporais, com relação ao campo das artes, não à toa, pensadores, filósofos, artistas, o cinema, de forma mundial, sempre estiveram presentes em movimentos sociais de vanguarda. Mais um alerta de como aproveitar a potencialidade do cinema como ferramenta social para avançar e desmistificar questões encrunhadas em discursos hegemônicos de ódio e preconceito.
Antes que esse texto possa parecer uma tese de defesa à supremacia do pertencimento, no que diz respeito às questões raciais e/ou de gênero em detrimento da qualidade estética/cinematográfica, cabe esclarecer que o filme também carece desta última. Há planos interessantes – pontuais – como o drone que filma Pepi sendo jogada aos leões de uma metrópole opressora – mas se perde em meio a escolhas controversas, optando muitas vezes por câmera na mão e desfoques relapsos. O trio protagonista, esse sim, entrega uma interpretação excepcional, que corrobora com o desejo de que o cenário no qual esse talento se exprime fosse mais frutífero.
Mais do que uma crítica, fica a reflexão acerca do tipo de narrativas que estão sendo propostas e quais os campos de diálogo que as permeiam. Os realizadores não devem focar no didatismo progressista, bem como, também não devem (pelo menos não deveriam) focar somente na repetição da crueldade, até porque, em se tratando de crueldade, nada, jamais, superará a barbárie da vida como tal.