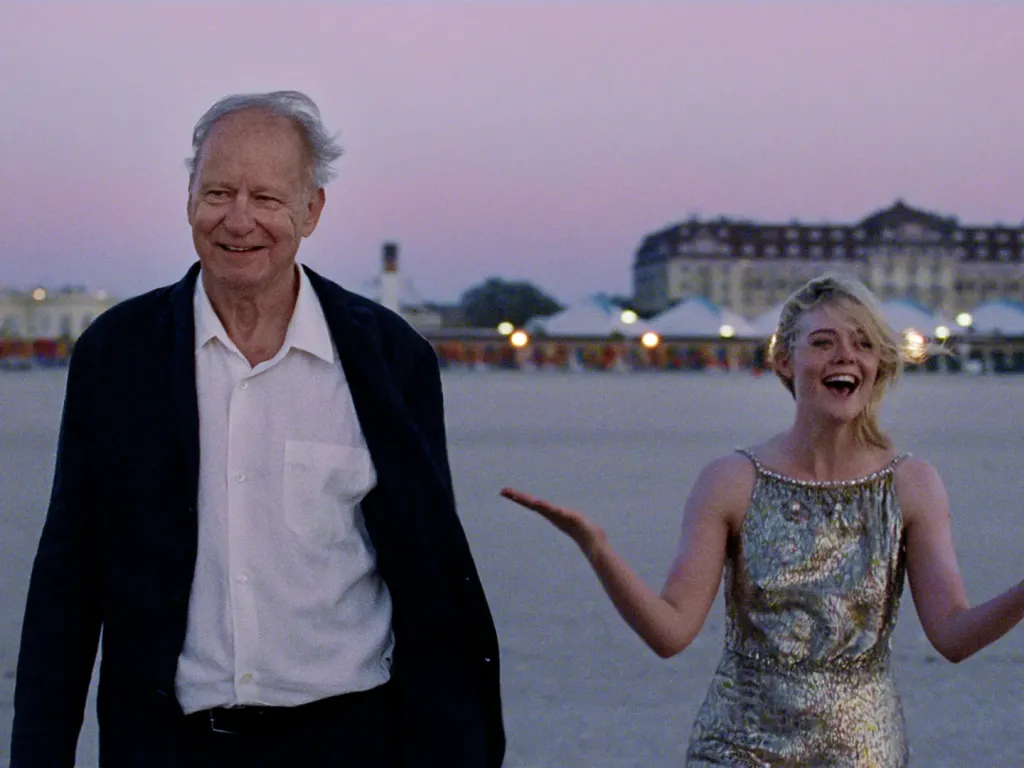‘A Única Saída’ transforma humor, violência e desumanização em um diagnóstico do nosso tempo
Novo longa de Park Chan-wook começa como um drama doméstico atravessado por ironia logo mergulha em absurdo, sadismo e violência
Por Lilianna Bernartt
A cada filme, Park Chan-wook se mostra cada vez mais ousado, conectado e comprometido a nos desestruturar como espectadores. “A Única Saída” (No Other Choice) parte de uma situação quase banal — um homem perde o emprego — para construir um abismo em looping. Yoo Man-soo (Lee Byung-hun) é um executivo exemplar, marido presente, pai atento, dono de uma casa confortável e de uma vida organizada em torno da ideia de estabilidade. Quando a empresa é vendida, a engrenagem gira, e ele se vê descartado em nome de uma lógica que se repete como mantra: não há outra escolha. A partir daí, o filme acompanha a implosão lenta e tortuosa desse homem que acredita que sua identidade depende de voltar a ocupar o mesmo lugar no mundo do trabalho. O que começa como um drama doméstico atravessado por ironia logo mergulha em absurdo, sadismo e violência — não como uma ruptura súbita, mas como um deslizamento progressivo. Park transforma uma história de desemprego em um retrato inquietante de um sujeito que, encurralado por um sistema desumanizante, relaciona a lógica da sobrevivência com a da aniquilação do outro.
As escolhas do cineasta acompanham esse universo de imprevisibilidade. Uma das coisas que mais chama atenção no filme é o modo como Park trabalha as transições como se fossem pensamento — muitas vezes ainda em formação — um zoom que parece brincadeira e, de repente, vira sentença; um reenquadramento que desloca a hierarquia da cena sem ninguém dizer nada; um corte em timing confuso. Isso cria humor, desconforto, uma espécie de vertigem deslumbrante. Ele opera a gramática do cinema como quem respira: de forma orgânica, inevitável. É por isso que impressiona: não há sobra. Mesmo quando ele flerta com o excesso, e flerta com gosto, tudo está a serviço da história. É aí que mora seu brilhantismo: transformar virtuosismo em necessidade dramática.
O filme fala de um homem que tenta manter a própria vida em pé, mas Park filma como quem sabe que a vida, quando desaba, não desaba de forma organizada. Então ele costura situações com curvas, dobras e fricções. A história nunca se limita, sempre se tensiona. Um momento sensível abre espaço para um gesto patético; o patético vira engraçado; o engraçado esmurece; o escuro, às vezes, volta a ser terno.
E isso é essencial porque “A Única Saída” é, além da genialidade técnica, um estudo sobre a normalização do absurdo. A violência aqui não entra como uma grande ruptura moral, um “agora tudo mudou”. Ela entra como uma sucessão de escolhas erradas. O absurdo não explode: ele se instala. E a gente assiste a esse processo com desconforto, mas também com identificação, porque reconhece a engrenagem do mecanismo mental que aceita o inaceitável quando o mundo te diz, repetidamente, que você não tem outra escolha.
Aliás, a frase “não há outra escolha” circula como um mantra do nosso tempo. A empresa demite porque “não há outra escolha”. O trabalhador se espreme porque “não há outra escolha”. As relações endurecem porque “não há outra escolha”. A ética vira luxo porque “não há outra escolha”. E quanto mais esse mantra se repete, mais a humanidade vai ficando rara, quase impraticável. Não é só uma sátira sobre o mercado de trabalho; é um espelho de como o sistema nos treina para aceitar o impensável em pequenas parcelas, digeríveis, “racionais”.
E quando o inaceitável está instalado, a gente ri sem querer, porque o humor não serve para aliviar, mas para expor. O riso vira um sintoma da nossa adaptação ao absurdo. Park está dizendo: olha como a gente aprende a conviver com o grotesco. Olha como a gente ri do que deveria nos parar. Olha como a violência pode virar coreografia. E como, sem perceber, a gente vai se tornando cúmplice do “funcionamento” das coisas, só porque elas estão funcionando.
Grande parte da força do filme passa pelo corpo dos atores, sobretudo pelo corpo de Lee Byung-hun. O que ele faz com Yoo Man-soo é de uma entrega rara: um trabalho que atravessa a comédia física quase burlesca, o patético cotidiano e uma construção psicológica cheia de fissuras, sem nunca recorrer ao excesso gratuito. Lee entende que esse personagem não “explode”, mas acumula. Cada gesto, cada pausa, cada olhar deslocado carrega uma informação emocional que não é dita. Yoo Man-soo é inteligente, metódico, orgulhoso, mas também infantil, acuado, ridículo. E é justamente essa combinação que o torna tão perigoso e tão humano. É prazeroso ver um ator com tamanho domínio técnico se permitir o descontrole, o constrangimento, o erro, como se o corpo estivesse sempre um passo atrás da mente.
Ao lado dele, Son Ye-jin constrói Yoo Mi-ri com uma precisão silenciosa que sustenta boa parte das tensões do filme. Sua atuação é feita menos de confronto direto e mais de deslocamento. Mi-ri não é a esposa que reage com escândalo, nem a figura moralizante que “denuncia” o colapso do marido. Ela se move em outra frequência — a de quem percebe que algo está fora do eixo, mas segue vivendo, trabalhando, existindo. Son Ye-jin trabalha com economia e inteligência, fazendo do olhar, da postura e do cansaço acumulado um comentário poderoso sobre o esvaziamento afetivo que acompanha a crise do protagonista.
A habilidade de Park de costurar humor e horror não é novidade, é a espinha dorsal de sua filmografia. Mas aqui ela parece mais amarga, mais adulta, no pior sentido: menos sobre explosões de violência e mais sobre a humilhação lenta, o esvaziamento do sujeito, a humanidade que não se quebra de uma vez, mas se corrói. Yoo Man-soo é um homem que acreditou nas regras do jogo, e o filme é cruel justamente porque mostra a tragédia de quem se sente “self-made” e descobre que era apenas tolerado pelo sistema enquanto fosse útil. Quando a utilidade cai, cai tudo junto: o trabalho, a casa, os símbolos de estabilidade e, com eles, o emocional. Ele não sabe nem nomear o que perdeu. Ele só sabe agir. E agir vira um modo de não sentir.
Mas o filme não deixa a gente dizer “ah, isso é uma história absurda”, porque ele insiste em que o absurdo é o mundo. O crime é apenas a caricatura final de uma lógica anterior.
Por fim, “A Única Saída” ressoa hoje como algo muito maior do que um desabafo autoral ou uma sátira bem calibrada. Ele funciona como um choque silencioso de reconhecimento. Porque toca num ponto íntimo e coletivo ao mesmo tempo: a sensação de que a humanidade está cada vez mais escassa nas relações, estamos nos perdendo em prol de continuar funcionando. É notável a normalização do endurecimento, da competição, da indiferença, no trabalho, na política, no afeto, na forma como o outro vira ruído, obstáculo, estatística. Park Chan-wook traduz esse estado de mundo com uma precisão quase cruel, fazendo do cinema não um espaço de alívio, mas de fricção. Um cinema que não oferece saída fácil, nem redenção moral, mas nos obriga a permanecer ali, olhando. Um tipo de cinema cada vez mais necessário, que, ao mostrar a desumanidade, colabora justamente para a preservação da própria humanidade.