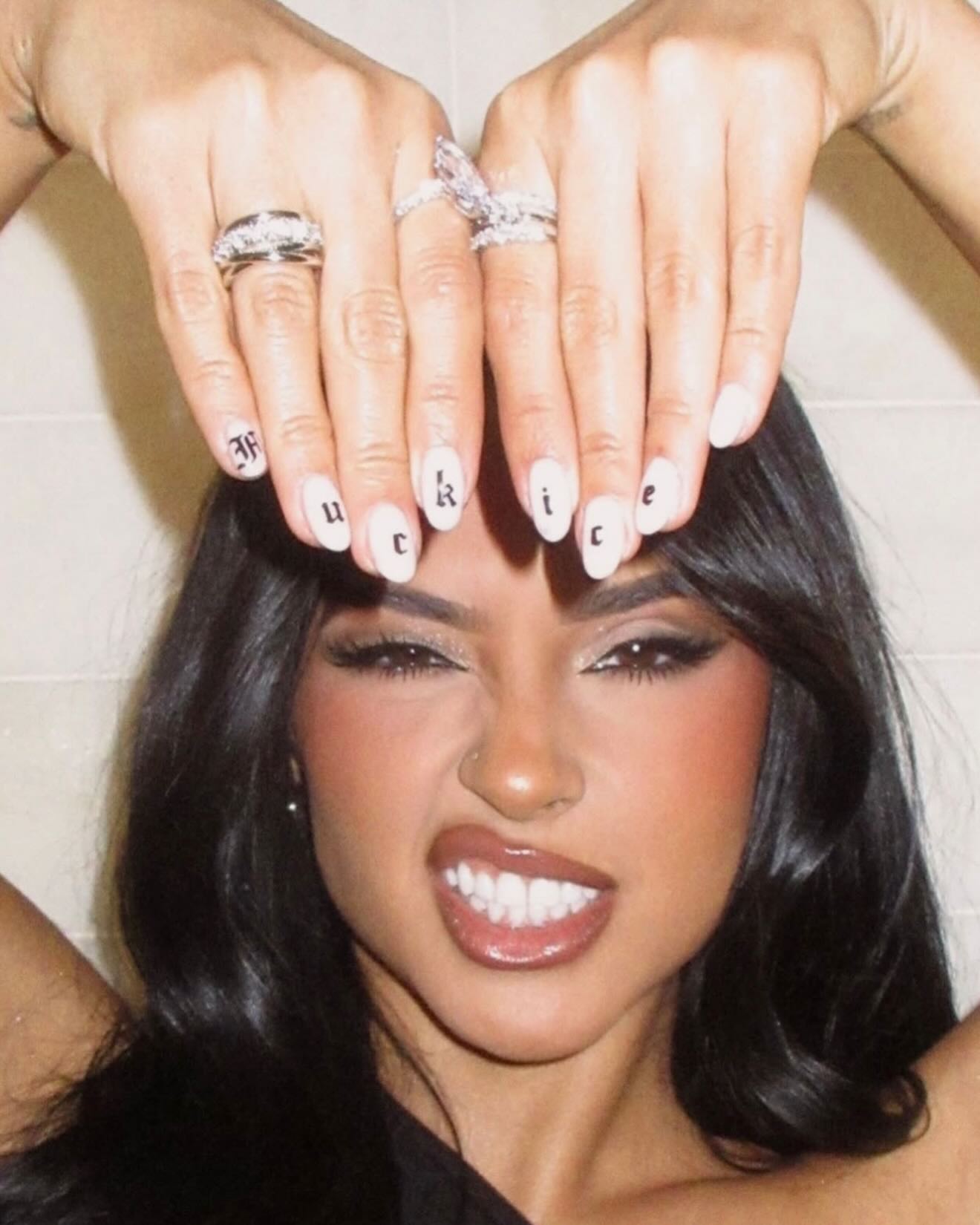A COP trouxe a “nova Belle Époque”?
Por que esse rótulo pode apagar desigualdades, distorcer a história e ignorar riscos climáticos?
por Bia Aflalo
Belém, atual capital do Brasil e sede da COP30, viveu um boom econômico no século XIX, quando, a partir da abertura de seus portos, estreitou relações com países da Europa, principalmente a França.
Este feito atraiu altos investimentos em comércio e infraestrutura urbana, e também gerou um processo de importação cultural europeia, que influenciou diretamente na moda, no design, na arquitetura e, até mesmo, nos costumes locais.
Mas tudo isso a partir de um sistema político higienista, que privilegiou áreas da cidade que eram ocupadas pela ponta mais alta da pirâmide social. Requalificação de edifício, alargamento de vias, iluminação pública, sistema de drenagem e limpeza urbana, arborização, qualidade de pavimentação e calçamento, tudo isso impactou positivamente uma parcela muito pequena da população, deixando à margem, isolados, os cidadãos que ocupavam as cotas mais baixas da capital paraense. Era o cartão-postal perfeito para as elites que circulavam entre Paris e a Amazônia.
Com o anúncio de Belém como sede da COP30, assistimos a um movimento parecido. Investimentos de toda a parte do mundo, novos projetos, obras públicas e melhorias de infraestrutura urbana. Isto somado ao foco que Belém recebeu e segue recebendo, algumas pessoas passaram a repetir que Belém vive “uma nova Belle Époque”.
O slogan é sedutor: remete a glamour, modernidade e uma cidade que se abre para o mundo. Mas essa comparação, além de rasa, é perigosa. Ela simplifica um passado complexo, apaga violências e cria uma ilusão de progresso que não se sustenta para todos.
O “brilho” da Belle Époque tinha uma sombra enorme. A modernização era excludente, racializada e profundamente desigual. Povos indígenas eram violentamente explorados para sustentar a riqueza gomífera. Ribeirinhos e migrantes nordestinos viviam sob trabalhos insalubres, sem direitos. Nas cidades, a população pobre foi expulsa para periferias improvisadas, em um movimento de gentrificação do centro.
A Belle Époque amazônica do século XIX foi, para muitos, um projeto de modernidade que se construiu apagando corpos e ecossistemas.
O custo climático de uma era artificialmente dourada
A narrativa da “época de ouro” raramente menciona o impacto ambiental que sustentou o luxo urbano. A extração descontrolada da borracha acelerou desmatamentos, queimadas, ruptura de modos de vida tradicionais e perda de biodiversidade. A modernidade era financiada por uma intensa destruição ecológica e essa história continua reverberando.
Chamar o presente de “nova Belle Époque” ignora que o planeta hoje vive a emergência climática mais grave já registrada. E a Amazônia, epicentro dessa crise, não pode repetir modelos urbanos baseados no esgotamento ambiental. A era de importar práticas e modelos de subsistência acabou.
O presente não é um retorno ao passado
Os avanços contemporâneos são reais: restaurações de patrimônio, mobilidade ativa, investimentos em inovação, presença internacional e uma efervescência cultural potente que nasce das periferias, dos territórios tradicionais e das juventudes urbanas.
Mas confundir isso com uma Belle Époque 2.0 é um erro conceitual e politicamente estratégico. A comparação romantiza desigualdades, alimenta uma visão colonial de desenvolvimento e máscara urgências sociais que continuam gritantes como moradia, saneamento, mobilidade, segurança alimentar, preservação dos territórios indígenas e quilombolas, entre outros.
A Amazônia precisa de futuro, não de nostalgia elitizada
O que Belém vive hoje não é um remake do passado, é uma encruzilhada histórica. Hoje, homens brancos, de classes alta e altíssima, em sua maioria cisgênero e heterosexuais, decidem investir ou não em projetos de justiça climática que impactam milhares de pessoas, que na esmagadora maioria das vezes não são ouvidas, nem consideradas pelos engravatados.
E aqui dois caminhos nos são apresentados: podemos seguir repetindo o modelo extrativo, privatizado e excludente da Belle Époque antiga, ou podemos construir cidades amazônicas de fato sustentáveis, plurais, e climática e culturalmente inteligentes.
A Amazônia não precisa de uma “nova Belle Époque”. Precisa de justiça climática, urbanismo reparador, políticas que durem mais que um ciclo econômico ou um evento internacional e, sobretudo, de escuta e consideração de gente que questiona rótulos, que vive em lugares onde a crise climática chega (já chegou) primeiro, e que desenvolvem soluções que podem construir futuros que a história ainda não teve coragem de escrever.