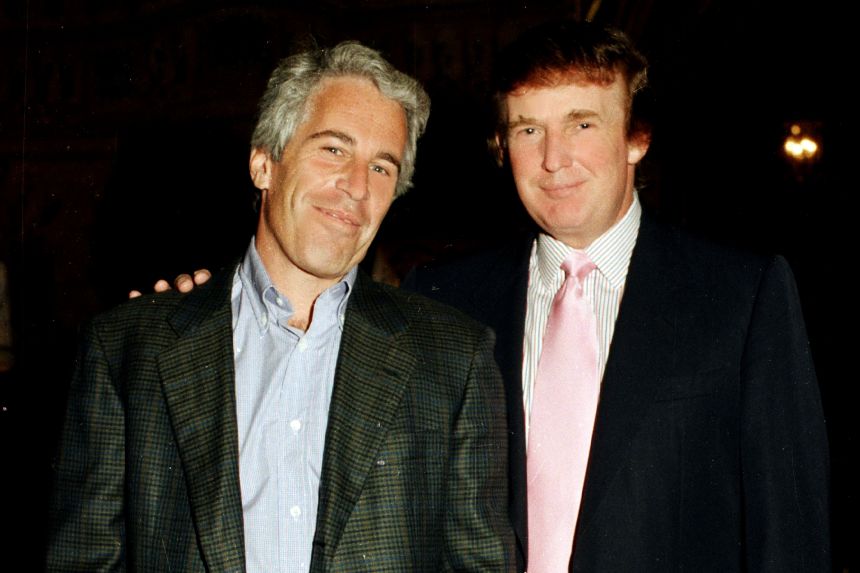A Argentina não é branca: a luta do coletivo afrodescendente por uma memória ativa
Em novembro celebra-se o mês da Afro-Argentinidade, data chave para redefinir as raízes do país e livrar-se do mito da “Argentina Europeia”. Em tempos de avanço da extrema direita e do discurso de ódio, entrevistamos Carlos Álvarez Nazareno, coordenador do Grupo Xango em Buenos Aires.
“Os argentinos vêm dos navios”, “Argentina, a Europa da América Latina”, “Na Argentina não há negros”. Estas frases percorrem continuamente a construção discursiva, social e política de um país que parece, por vezes, não ter registo da sua identidade, das suas raízes e da sua memória ancestral. Embora seja verdade que historicamente a percentagem de população negra na Argentina tem sido muito inferior à de outras nações latino-americanas, as coisas eram diferentes na época da colónia espanhola.
Segundo registros históricos, há 200 anos, em cidades como Buenos Aires, os negros representavam mais de 20% da população, número que poderia chegar a 60% em outros lugares onde o trabalho dos escravos trazidos da África era fundamental para as economias locais.
Os analistas concordam que durante décadas, os historiadores argentinos, determinados a construir uma identidade nacional baseada principalmente na herança europeia, ignoraram a contribuição crucial dos escravos e dos seus descendentes para o desenvolvimento económico, cultural e político do país.
Como necessidade de resgatar essa memória, em 2013 foi aprovada a Lei 26.852, que institui o dia 8 de novembro como o Dia Nacional dos Afro-Argentinos e da Cultura Afro. Antes do evento, a comunidade afrodescendente organizada em todo o país trabalhou durante vários anos para que isso acontecesse. A data escolhida marca a morte de María Remedios del Valle Rosas, conhecida como “A Mãe da Pátria: “(…) a quem Manuel Belgrano, figura central na luta pela independência argentina, conferiu o posto de Capitão por sua coragem e bravura no campo de batalha.” Sim. A independência argentina tem rosto de mulher afro e a partir daí o trabalho de revisitar a história. Um dos espaços do país que se encarrega desta tarefa é o Grupo Xango. Neste sentido, e no âmbito de um novo #8N, falámos com o seu coordenador, Carlos Álvarez Nazareno:
Como surgiu o grupo Xangu e qual o seu foco de trabalho?
Somos um grupo que luta contra o racismo e pela visibilidade da população afro-argentina, afrodescendente e africana neste território nacional. Surgimos em 2010 2011 e nos propusemos a pensar no que poderíamos contribuir de novidade para o movimento afro-argentino que já contava com representantes emblemáticos como Lucia Molina ou Miriam Gómez, para citar alguns.
Focámo-nos então em trabalhar no combate ao racismo em todas as suas expressões no quotidiano, institucional, estrutural, linguístico e particularmente no sistema educativo, uma vez que não existiam muitas organizações que trabalhassem fortemente na questão.
Como você coordena a luta antirracista no sistema educacional?
Embora historicamente lideranças e organizações afro-argentinas ministrassem oficinas voluntariamente, buscamos uma intervenção muito mais sistemática, por isso um dos nossos principais eixos foi a coordenação, por exemplo, com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da República Argentina, que reúne os maior grupo de professores do país e gerar seminários de formação com eles.
A partir dessa experiência publicamos dois guias educativos para dar aos professores ferramentas concretas para trabalhar o racismo. Para isso, reunimos as opiniões de professores-alunos, professores em exercício, ativistas afro e professores negros. Poder falar sobre racismo desde a educação infantil é essencial: as crianças, desde a sua inocência, repetem muitas práticas ou comentários que recebem de casa e levam isso para a escola. Provocações, piadas e bullying vêm dessas situações. Portanto, a educação é a ferramenta para acabar com a discriminação.
E como é o trabalho na juventude e no nível superior?
Lá temos uma menor presença de afrodescendentes no sistema. Existem elevados níveis de abandono escolar entre os jovens que concluem o ensino secundário e não ingressam na universidade. Então geramos uma bateria de ferramentas para dar a eles um espaço de reunião. Já organizamos 5 encontros nacionais de jovens afro e também intercâmbios internacionais com os Estados Unidos. Visitamos diferentes universidades, por exemplo a Universidade de Michigan, onde nosso projeto começou, a Universidade de Michigan e a Universidade Howard. Para muitos deles é a primeira vez que saem da Argentina, deixando suas famílias.
Fizemos todas essas ações para fortalecer o seu processo educacional. Mas também começamos a gerar outras ações ligadas aos jovens, por exemplo, da área da saúde. Lá trabalhamos os direitos sexuais, reprodutivos e não reprodutivos, vinculados à prevenção da gravidez na adolescência e da gravidez indesejada. Também a identificação precoce de algumas doenças de propensão étnica e a sua formação e formação.
Você está falando da geração de políticas públicas. O que é essa articulação com um Estado hoje ausente? E que outras articulações fazem regionalmente para promover o trabalho de Xango?
Temos vindo a reforçar fortemente a nossa participação a nível local e regional. Temos trabalho conjunto com Brasil e Uruguai e no caso da comunidade brasileira temos coordenação específica com a comunidade LGTBI. Com ambos os países a nossa base de trabalho está no apoio e promoção dos direitos humanos e das políticas públicas. No plano internacional também fazemos parte da Libertação Negra Indígena. São espaços fundamentais neste momento difícil que atravessa a Argentina, da mesma forma que a nível local estamos ampliando nossas articulações com os povos indígenas e diversas organizações afro.

Neste quadro de luta pela igualdade, como a Argentina chega a estes 8N em meio a um avanço da extrema direita na América Latina?
É importante fazer uma revisão histórica para chegar ao presente: Na Argentina desde a sua formação houve um projeto político de branqueamento e um projeto político de aniquilação do que não era branco de origem europeia. Esta ideia começa com a geração dos anos 80 e com o “pai da educação argentina”, Domingo Faustino Sarmiento. A partir daí a ideia de uma educação branca foi promovida e aprofundada. Acontecimentos como a Campanha do Deserto, que procurou aniquilar os povos indígenas do país, fazem parte desse processo. Mais tarde, muitos afros, povos indígenas, morreram nas lutas pela independência ou de febre amarela. Em parte, a ideia de uma Argentina sem afro surge desses acontecimentos. A realidade é que naquela época, meados do século XVIII, em províncias como Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Santa Fé, 40,50% da população era afro ou indígena. Depois, com a migração europeia passámos a ser 20 ou 30% em algumas províncias. A realidade é que nosso legado é extenso, desde cultura, língua, culinária (Você sabia que as achuras, aquelas que tanto gostamos no churrasco, são um legado afrodescendente, por exemplo?)
A Argentina é então o país mais racista da nossa região?
Não posso dizer “o mais racista”, mas já existe racismo estrutural, sem duvidas. É muito difícil para o argentino reconhecer que é racista. Isto se vê na reprodução da linguagem, dos ditos, das formas. Quantas vezes ouvimos: “Ele é negro de alma” ou “Ele é negro”. Para transformar isso, o papel do Estado, atualmente inviável, é fundamental. Poder ter práticas anti-racistas, uma restauração dos Direitos Humanos e organizações anti-racismo como o INADI, encerrado pela gestão de Javier Milei, é fundamental. Caso contrário, a implementação de campanhas de combate ao racismo torna-se impossível.
Neste contexto, como o movimento afro na Argentina continua a se articular diante de todos esses desafios?
Acredito que nos últimos anos houve um maior reconhecimento da comunidade afrodescendente na Argentina. Desde a figura de María Remedios del Valle e o trabalho de recuperação de sua história e legado como “Mãe da Pátria”, passando pela promulgação da Lei 26.852 da qual fez parte a Agrupación Xango. Historicamente, continuaremos a resistir devido ao sentido de resiliência do nosso movimento, das nossas comunidades e do nosso povo. Vamos continuar lutando e lutando pela igualdade, pela equidade, pela justiça racial e também pela justiça climática.