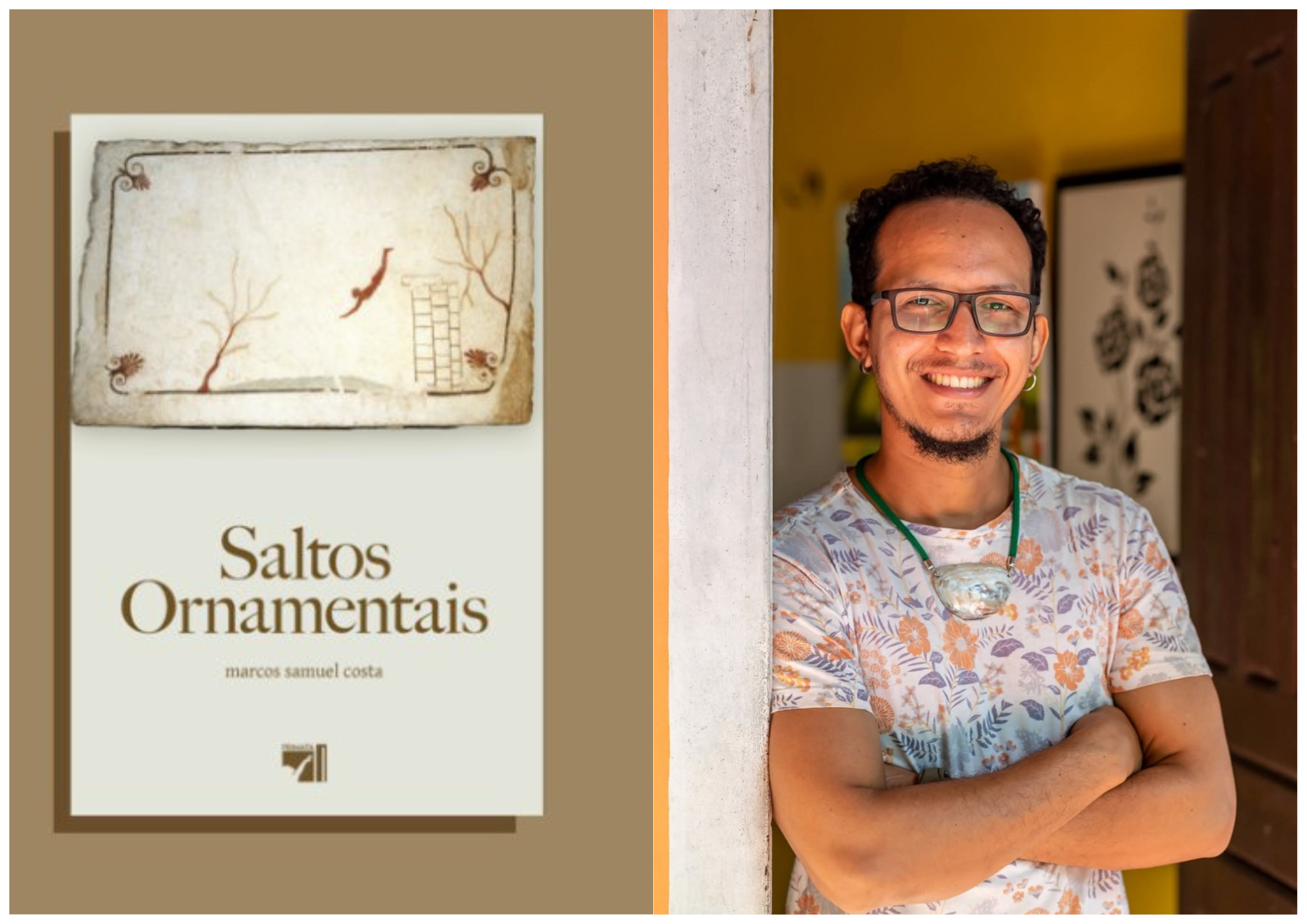Mairi Vive: Belém, capital do Brasil durante a COP, é território Tupinambá
A memória indígena está em todos os lugares, inclusive nos territórios urbanos
Gabriela Cardoso, da Cobertura Colaborativa NINJA na COP30
As cidades amazônicas são território indígena. Dizer isso não é apenas atestar um fato histórico, mas resgatar algo observável no presente: basta olhar para os corpos, para a cultura e para a oralidade do povo amazônico. Belém, sede da COP 30 e atual capital do país, não é exceção.
Enquanto dentro dos limites da Blue Zone (Zona Azul) líderes de governo negociavam os territórios dos povos tradicionais, indígenas de contexto urbano de várias regiões do Pará organizaram uma programação paralela que reuniu lideranças, historiadores, pesquisadores e artistas na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal do Pará (UFPA). O objetivo do evento, intitulado “Mairi Vive”, era um só: fortalecer a retomada ancestral da cidade. Uma das organizadoras do evento, Moara Tupinambá explica que “antes de Belém ser Belém, era chamada de Mairi, a cidade da nação Tupinambá”.
“Criamos o Mairi Vive porque sempre sentimos a urgência de reunir quem, como eu, carrega Mairi no corpo, artistas, pesquisadores, ativistas, lideranças e todos os indígenas que nasceram ou resistem no contexto urbanizado de Belém”, explica a artivista Moara Tupinambá, uma das idealizadoras do encontro.
“Somos marcados por um racismo que tenta negar nossa etnicidade e apagar nossa memória, como se os Tupinambá fossem apenas passado, ou como se só fosse indígena quem está na aldeia. Vale lembrar que aqui também é território indígena que foi invadido. Aqui tombou nosso Tuxaua Guaimiaba, com o Levante Tupinambá.”
Mairi, cidade indígena
Tuxaua Guaimiaba foi o líder da primeira resistência indígena de Mairi contra a invasão dos colonizadores portugueses, no século XVI. Em janeiro de 1619, Guaimiaba liderou o ataque tupinambá ao Forte do Senhor Santo Cristo (atual Forte do Presépio), com o objetivo de expulsar os colonizadores, e foi morto em combate. Ele foi uma das primeiras lideranças indígenas a sofrer com as mazelas da colonização na Amazônia.
“A maior parte das nossas cidades são cidades indígenas. Assim como Belém era Mairi, Alenquer, a cidade onde eu nasci, era Surubiú”, contou Aldrin Figueiredo, historiador e professor da UFPA, durante uma das mesas redondas do encontro. “A minha cidade, assim como Santarém e todas as cidades do Baixo-Amazonas, foram assentadas em cima de aldeamentos ou descimentos indígenas de grupos bem conhecidos no nosso imaginário: Baré, Uruçá, Aparai, Waiwai… Todos eram povos que ocupavam aquela região.”
Segundo o professor, que também dirige o Museu do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), até o século XIX, não era polêmico dizer que Belém era uma cidade indígena. Ele explica que, em 1616, junto com o atual Forte do Presépio, foi construída uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Graça pelos colonizadores. Isso, no entanto, não significa que o Forte e a capela tenham sido as primeiras estruturas urbanísticas da nossa região.
“Os portugueses, como os espanhóis e os franceses, tinham o hábito de entronizar o poder deles sobre um lugar indígena. Isso aconteceu no México e aconteceu no Peru”, acrescentou Aldrin. “Geralmente a catedral é posta em cima de um templo antigo ou de um cemitério. É um ato muito simbólico. Em Belém, nas escavações que foram feitas no Forte, foi encontrada uma fogueira Tupinambá.”
Retomada ancestral

O encontro “Mairi Vive” teve a duração de três dias e contou com uma série de atividades. Além das mesas redondas que abordaram a história da cidade, nas quais estiveram presentes os pesquisadores da UFPA Camille Nascimento, Ivânia Neves e Aldrin Figueiredo, a programação também incluiu uma exposição artística, rituais sagrados de acolhimento e uma batalha de rap, todas centradas na perspectiva indígena.
Para a professora e pesquisadora Valzeli Sampaio, do Programa de Pós-graduação em Artes da UFPA (PPGARTES/UFPA), encontros como esse reafirmam e fortalecem a identidade indígena nas cidades. “Em um país onde a memória indígena muitas vezes é apagada ou distorcida, o evento reafirma: Mairi vive, os Tupinambás vivem. A própria presença deles na universidade — um território historicamente restrito — é um gesto político de reocupação e visibilidade”, defende a professora.
Uma das principais lideranças presentes foi Pajé Nato Tupinambá, guardião de linhagem ancestral e natural do Baixo Tapajós. Durante a primeira semana da COP30, Pajé Nato ficou conhecido por denunciar, ao lado de outras grandes lideranças como Margareth Maytapu, a privatização dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins via decreto para a construção de hidrovias. A principal reivindicação é que as autoridades cumpram o que está previsto na convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e escutem os povos que serão afetados pelas privatizações.

“Mairi” é o nome sagrado, o nome ancestral. A luta é afirmar que esse território aqui todo era indígena”, assegura o pajé.
“Infelizmente, a maioria dos povos foram apagados e outros tiveram que fugir. Hoje, Mairi está ressurgindo com a força da ancestralidade dos nossos encantados e dos nossos ancestrais. A minha luta não é mais por mim, é para as nossas futuras gerações, para os nossos presentes que são os nossos filhos.”
Murukutu e presente indígena
Não faltam provas da presença Tupinambá na cidade de Belém. Espaços como as Ruínas do Murukutu, hoje um sítio arqueológico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), são lembrados pelos habitantes da região metropolitana como edificações construídas por mão-de-obra escravizada indígena. No entanto, a história do Murukutu e de outros territórios na capital não deveria ser resumida apenas à escravização e nem relegada ao passado:
“Esse território chama-se Murukutu em referência à coruja Murukutu, que, dentro da cosmologia Tupinambá, é a entidade Uirá-Jurupari, uma ave espírito que faz a transição entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos”, conta Ângelo Tupinambá, liderança indígena e professor de nheengatu. “Ela é mencionada na obra ‘A Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha de São Luís’, que foi escrita por Claude d’Abbevile e publicada em 1614, antes mesmo da fundação de Belém.”
Marília Sena Tupinambá, jovem liderança indígena e palestrante, reafirma: “Antes de qualquer ‘conquistador’, existiam povos indígenas que habitavam e que construíram essa cidade. A nossa população pode ter sido jogada para as periferias, mas ainda está aqui. Nós não fomos extintos.” E Moara Tupinambá acrescenta: “nenhum apagamento conseguirá impedir que nos reconheçamos, nos unamos e afirmemos que Belém sempre foi, e segue sendo, Terra Tupinambá.”Mairi, no vernáculo nheengatu, significa “cidade”. E, em um país como o Brasil, a memória indígena está em todos os lugares, inclusive nos territórios urbanos. Na Amazônia, ela povoa o nosso vocabulário, a nossa cultura, as nossas edificações históricas e os corpos da juventude nas nossas baixadas. Este é o momento de escutá-la.