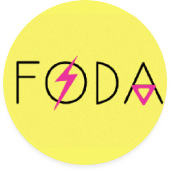Marisa Fernandes e a luta de mulheres lésbicas durante a ditadura militar
Em uma trajetória que se mistura á história dos movimentos LGBTQIAPN+ feministas no Brasil, a ativista e historiadora Marisa Fernandes conta sobre suas memórias
Por Kaio Phelipe
Aos 71 anos de idade, Marisa Fernandes, ativista e mestre em história social pela USP, contou sobre sua trajetória no ativismo – que teve início no movimento estudantil –, a atuação no Grupo SOMOS e na Facção Lésbica Feminista – pioneiros na luta LGBTQIAP+. Em entrevista exclusiva, ela também relatou suas memórias e resistências durante o período da ditadura militar.
Em uma trajetória marcada pela resistência e pela luta por direitos, a história de Marisa reflete a coragem e a determinação de enfrentar adversidades em tempos sombrios. Comemorando 45 anos de militância, Marisa nos leva de volta a fevereiro de 1979, quando participou de um debate histórico sobre homossexualidade na Universidade de São Paulo (USP). Naquele dia, ela e sua namorada se juntaram ao Grupo SOMOS, o primeiro grupo brasileiro de militância homossexual, marcando o início de uma longa jornada de ativismo em prol da comunidade LGBTQIA+.
Em 1977, foi presa durante um ato público na PUC-SP, onde enfrentou a brutalidade policial e o sistema repressivo do regime. Essas experiências de resistência foram fundamentais para moldar sua militância e fortalecer seu compromisso com a causa LGBTQIA+ e com a luta pela democracia. Ao longo dos anos, sua dedicação e resiliência inspiraram novas gerações de ativistas, deixando um legado significativo na história do movimento LGBTQIA+ no Brasil. Confira abaixo a entrevista completa:
Quando entrou para o ativismo?
Em fevereiro de 1979, no auditório do prédio de História e Geografia da USP, aconteceu um evento muito importante, que foi a Semana das Minorias, onde muitas questões foram discutidas sobre mulheres, pessoas negras, homossexuais e indígenas. Na quinta-feira, dia oito de fevereiro, o tema foi a homossexualidade. Eu estudava no Departamento de História e fui ao debate conduzido pelo Grupo SOMOS, tido como o primeiro grupo brasileiro de militância homossexual. Ao terminar o debate, eu e minha namorada fomos até a mesa dos integrantes desse grupo e eu perguntei quando, onde e em qual horário eles se reuniam. Assim, no sábado, dez de fevereiro de 1979, eu e essa namorada participamos da reunião do SOMOS, onde até então havia apenas uma única lésbica presente. Todos os demais participantes eram gays.
Assim, neste ano de 2024, minha primeira ação política lésbica completou quarenta e cinco anos. Vale ressaltar que esta foi a minha primeira entrada na luta em favor da população LGBTQIA+, porém, na luta contra a ditadura militar e pelo retorno da democracia no Brasil, em 1975 participei, no dia trinta e um de outubro, do ato ecumênico realizado na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, que prestou homenagens a Vladimir Herzog. Foi um protesto que inaugurou o início do fim da ditadura militar.
Como foi ser uma mulher lésbica durante a ditadura hetero-militar?
Um golpe de Estado, que derruba uma democracia e, fortemente, se apoiava na defesa da moral, dos bons costumes e da família heterossexista, só poderia ter sido, para nós, lésbicas, um verdadeiro terror. O medo era constante. As relações lésbicas eram consideradas ilícitas por serem fora dos padrões “normais”. A opressão sobre as lésbicas era muito forte, impunha-se que era necessário que nos falássemos, sufocassemos, que devíamos viver na clandestinidade. Os meios de comunicação divulgavam apenas dois assuntos sobre nós: que nossa sexualidade era uma doença ou aparecíamos nas páginas policiais.
Ainda no ano de 1979, em São Paulo, teve início a Operação Limpeza, realizada pela polícia militar, que prendia prostitutas, travestis, michês, gays e lésbicas. Em maio de 1980, o aparato repressivo invade e prende as lésbicas que frequentavam bares e restaurantes do “gueto”, o argumento da prisão era “você é sapatão”. Em 1985, o programa da Hebe Camargo, que era ao vivo na TV Bandeirantes, foi censurado por discutir a homossexualidade feminina, no qual estava presente a saudosa ativista Rosely Roth. A repercussão desse programa foi nacional, mas a repressão também. O Serviço de Censura Federal de São Paulo argumentou, para justificar a censura imposta, que a Hebe transformou o seu programa em uma tribuna livre de aliciamento, indução e apologia à homossexualidade feminina.
Quando e como foi presa?
Eu entrei na USP em 1976, já com vinte e três anos. Este foi um ano repleto de atividades do movimento estudantil, com vistas a enfrentar a ditadura militar. Cartazes eram afixados nas paredes do prédio de História e Geografia. Muitas cartas-programas eram distribuídas para os alunos, contendo as propostas e as posições políticas ideológicas de cada uma das três principais tendências – Refazendo, Caminhando e Liberdade e Luta (LIBELU). O objetivo era refundar o Diretório Central dos Estudantes, o DCE Livre da USP, mas também retornar as manifestações públicas. Já em 1977, iniciei a minha participação no movimento estudantil, que realizou muitas manifestações nas ruas contra a ditadura militar. Eu fui presa no Ato Público realizado na PUC, na noite de vinte e dois de setembro de 1977. Lá, estavam reunidos cerca de dois mil estudantes.
Estávamos reunidos ao lado de fora do Teatro da Universidade, o TUCA. No início da leitura da carta aberta, fomos interrompidos por uma violenta operação policial, onde os policiais usaram bombas tóxicas, gás lacrimogêneo e inflamáveis e cassetetes. Fui conduzida para o Batalhão Tobias de Aguiar, onde fui fichada, tendo que passar todos os dados pessoais, fotografada e também tiraram as impressões digitais dos meus dez dedos. Levamos a noite toda para ser interrogados. Durante todo esse tempo, um general andava entre nós, que estávamos sentados no chão, e ele dizia “amanhã todos vocês serão transferidos para a Ilha Grande”. Ele fazia isso para tocar o pânico. Eu fiquei presa durante toda aquela noite.
Quando e como foi o seu primeiro contato com a literatura de Cassandra Rios?
Quando me descobri lésbica, eu tinha quinze anos. Já era o ano de 1968. Eu e minha namoradinha tínhamos tantas coisas para descobrir sobre nós mesmas, adolescentes, lésbicas, com medo de viver o que éramos, estudantes, com a família, a repressão da ditadura, da imprensa, da igreja, um mundo de coisas. A repressão da minha família foi gigantesca. Relatei os episódios no Lampião da Esquina, n° 12, edição de maio de 1979. No começo do meu relacionamento afetivo-sexual, a única informação que eu tinha da escritora Cassandra Rios era que os seus livros eram obscenos, indecentes e as relações sexuais descritas eram vulgares, enfim, suas obras eram pornográficas.

Eu não tinha interesse em ler seus livros publicados, pois achava que o conteúdo não iria fortalecer o erotismo dentro da minha relação, resultante do fato de estarmos apaixonadas, nem nos ajudar enquanto jovens lésbicas recém assumidas. Mas, com o passar do tempo, Cassandra Rios se tornou a minha ídola. Merece todo respeito, admiração e homenagem. Tornou-se a primeira escritora brasileira de romances sobre a homossexualidade feminina.
Como surgiu a ideia de criar a Facção Lésbica Feminista, dentro do Grupo SOMOS?
Dentro do SOMOS, o número de lésbicas começou a crescer e, após três meses de trabalho junto com os homens gays, foi o suficiente para nós, lésbicas, percebermos quão forte era o machismo dos nossos companheiros. Percebemos que éramos discriminadas, pois se usava constantemente o termo “bicha” como universal para a homossexualidade e, quando falavam se referindo às mulheres, usavam o termo “racha” ou “rachada”. Percebemos também que os gays, por serem em maior número no grupo, e por estarmos diluídas nos subgrupos existentes, nos sentíamos oprimidas, conseguindo falar muito pouco e que nossa fala era sempre para ajudar nossos companheiros a terem menos preconceitos sobre as lésbicas.
Sentindo que a nossa situação era de servilismo, resolvemos, na reunião geral ocorrida em dois de junho de 1979, discutir o machismo dos gays do Grupo SOMOS, a situação das lésbicas dentro do grupo, a continuidade das lésbicas no grupo e a criação de um grupo de identificação – para recepcionar gays e lésbicas que chegassem pela primeira vez, só com lésbicas. Nesta reunião, éramos dez lésbicas e oitenta gays. Fomos acusadas de tudo e de todas as formas tentaram nos fazer desistir de criar um grupo de identificação só para lésbicas. Não faltou nada nesse dia: houve gays que nos chamaram de histéricas, mas, felizmente, alguns três ou quatro gays nos apoiaram e começaram a lutar ao nosso lado, por nós, pelos nossos direitos e nossa participação cada vez maior. Nossa primeira luta feminista não foi nada fácil.
Esse dia marcou, sobretudo, nossa existência e saímos da reunião como quem saía de um campo de concentração, porém, com duas grandes certezas: uma de que a existência do machismo e a opressão contra a gente dentro do SOMOS era inegável e a outra de que continuaríamos sendo um grupo de lésbicas, separadamente dos gays dentro do SOMOS. Nós responderíamos as nossas cartas, teríamos um arquivo dos nossos documentos, recepcionaríamos as novas lésbicas ingressantes no grupo. A partir da tomada de consciência da opressão e do machismo dos nossos companheiros gays, somado à dupla opressão de toda sociedade, por sermos mulheres e lésbicas, seríamos um grupo de lésbicas feministas. Surge, assim, o Lésbica Feminista, o LF.
Como era a noite de São Paulo nessa época?
A noite em São Paulo era uma delícia, havia muitos estabelecimentos só para lésbicas. Não havia solidão na noite lésbica paulistana. O primeiro estabelecimento que surgiu foi o Pipoca, em 1965, e fechado em 1971. Em 1972, veio o Lapinha e o Cachação. Na década de 1970, eram muitos os lugares de frequência lésbica… Boate Último Tango, Lady’s e diversos outros.
Qual é a importância de Rosey Roth, do Levante no Ferro’s Bar e do boletim ChanaComChana?
A história do Ferro’s Bar é marcante. Ele surgiu em 1961 e existiu até 1999. Seu surgimento esteve intimamente ligado à inauguração da matriz da TV Excelsior, canal 9, em nove de julho de 1960, em São Paulo, quando a TV alugou, para seus estúdios, o Teatro de Cultura Artística, inaugurado em março de 1950, na Rua Nestor Pestana, número 196, no bairro da Bela Vista/Bixiga, de onde transmitiam e gravavam seus programas e shows. Em seus primeiros anos, o Ferro’s era frequentado por artistas, boêmios, jornalistas, intelectuais, periféricos, prostitutas e, consta que até o golpe de trinta e um de março de 1964, por ativistas comunistas. Outro fato importante e curioso é que, em 1967, as mesas eram ocupadas por casais de mulheres, virando um ponto de encontro para lésbicas.
Nós, que integrávamos o Grupo LF, vendíamos nesses locais, primeiramente, o Lampião da Esquina e, depois, o ChacaComChana. Divulgávamos o grupo, entregávamos panfletos sobre nossos eventos e questões sociais que envolviam lésbicas. Eu não participei do ChanaComChana, eu respondia as cartas que nos eram enviadas e ajudava nas vendas e na divulgação do boletim. Sobre a Rosely Roth, sinto admiração, respeito e gratidão. Desde fevereiro de 1981, passou a ser ativista do movimento de lésbicas. Ela sempre foi uma mulher muito corajosa, foi a cara e a voz das mulheres lésbicas. Rosely sempre lutou por igualdade, justiça e reforma das leis. Foi uma grande feminista, combateu o machismo, o autoritarismo e as desigualdades sociais.
Em agosto de 1983, ocorreu a proibição das lésbicas do GALF (Grupo de Atuação Lésbica Feminista) de entrarem, frequentarem e venderem dentro do Ferro’s Bar o boletim ChanaComChana. No dia dezenove de agosto, aconteceu o Levante no Ferro’s Bar, um evento importante contra a repressão às lésbicas. Foi um ato histórico, pois depois da invasão das lésbicas ao local, saímos vitoriosas. A marca de atitudes ditatoriais devem ser contestadas. Em 2023, fez quarenta anos do Levante. Rosely Roth foi a principal mentora do ato.
Como aconteceu a aliança do movimento feminista e do movimento de lésbicas?
Assim como o movimento homossexual, para nós, tinha um potencial revolucionário, acreditávamos que o movimento feminista era um conjunto de ideias de ações que tinham o poder de subverter, mudar e transformar as práticas patriarcais. Pensamos, então, como podíamos contribuir com o II Congresso da Mulher Paulista, que aconteceria nos dias oito e nove de março de 1980 nas dependências da PUC e decidimos participar do evento. Não previmos o que poderia ser a nossa participação nesse congresso. Ingênuas, nossa discussão primordial era que as mulheres rompessem com o ciclo de opressão, subordinação, de noção de hierarquia masculina que não aceita a posição de igualdade da mulher e que elas estavam aptas para desenvolver suas energias, reconhecer suas potencialidades, criatividades e desenvolvimentos. Considerando que essas questões ainda eram pouco, defenderíamos também que as mulheres deveriam engrossar a luta pelo direito ao prazer e a sua sexualidade. Era isso o que falaríamos no congresso, era essa a nossa contribuição para o avanço do feminismo.
O Grupo de Atuação Lésbica Feminista considerava que o feminismo significava a procura da mulher por valores não marcados pela cultura machista. Mas a nossa participação no congresso foi um escândalo. O barulho da nossa participação foi muito grande. As feministas e as mulheres do movimento popular se assustaram. Acostumadas a discutir apenas as questões das mulheres heterossexuais, algumas reagiram com curiosidade e outras com hostilidade. Se para as feministas nós éramos radicais, para as demais participantes o feminismo era uma proposta de intelectuais da classe média que não tinham o que fazer. Lá, disseram que nossas demandas eram específicas e não integravam a luta maior. Lutar por direito ao corpo e ao prazer era demais para as camaradas e companheiras daquela época. Era preciso afinar o discurso entre lésbicas e as feministas heterossexuais.
Como era a atuação do movimento de lésbicas durante a epidemia da aids?
Intensa. Muitas de nós cuidaram de seus amigos gays, pois as famílias não os respeitavam. Fazíamos reuniões com outras lésbicas para demonstrar práticas sexuais seguras e trabalhamos muito com mulheres encarceradas. Em nossas revistas ou boletins alternativos, fazíamos matérias sobre prevenção. Foi um período terrível, no qual perdemos muitos amigos, onde as ruas do Largo do Arouche ficaram vazias. Os lugares de frequência de gays ficaram desertos.
Ainda mantemos alguma tradição da ditadura militar?
Sim. Muitas violações aos direitos fundamentais seguem em percurso, muitas expressões pejorativas e discriminatórias são usadas, manifestações inadmissíveis de intolerância que atingem grupos tradicionalmente marginalizados, não reconhecimento do direito à liberdade de orientação sexual como liberdade existencial da população LGBTQIA+, excessiva busca e manutenção da dominação moral, fortemente predominante nas visões religiosas de que incontáveis práticas, atos e existências humanas são condenáveis.