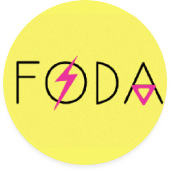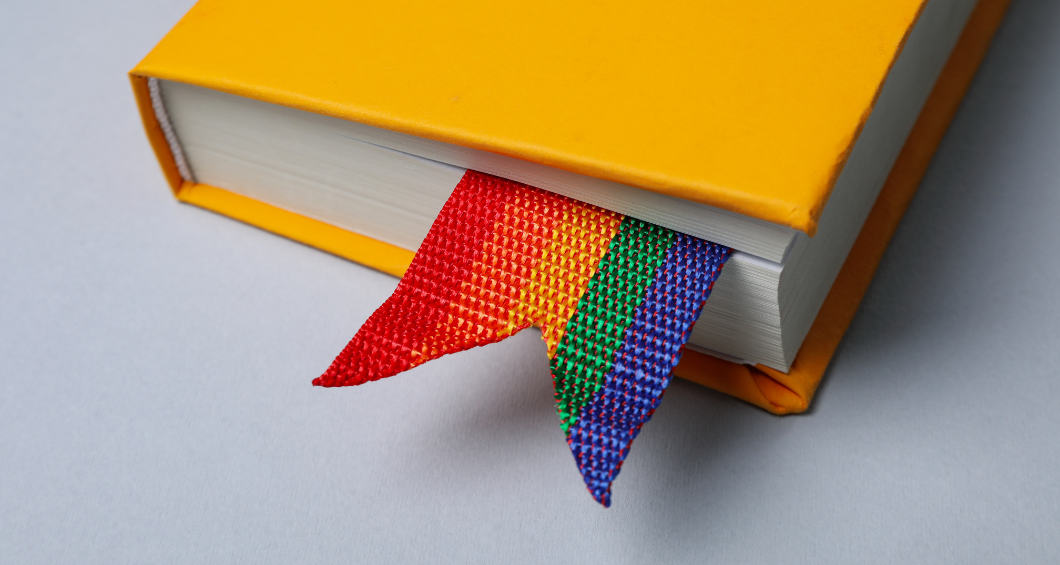Leonardo Peçanha: “a negritude sempre esteve presente no movimento trans”
Na busca incessante por visibilidade, corporeidades transmasculinas e negras viram material de estudo e vivência do pesquisador
Por Kaio Phelipe
Leonardo Peçanha, um dos nomes de influência no ativismo trans brasileiro, tem uma trajetória marcada por lutas e conquistas que atravessam diversas áreas do conhecimento e da militância. É doutorando em Saúde Coletiva (IFF/FIOCRUZ), mestre em Ciências da Atividade Física e especialista em Gênero e Sexualidade. Leo possui graduação em Licenciatura Plena e Bacharel em Educação Física e, além disso, é pesquisador no GENSEX – Núcleo de Estudos Sobre Gênero, Sexualidade e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, é membro do GT de saúde LGBTQIAPN+ da ABRASCO e atua no ambulatório Identidade Transdiversidade, da UERJ. Também é um dos organizadores e autores do livro pioneiro Transmasculinidades negras – Narrativas plurais em primeira pessoa.
Nesta entrevista exclusiva, Leonardo compartilha sua trajetória no ativismo, desde os primeiros passos no movimento secundarista no final dos anos 1990 até sua atuação contemporânea em instituições como o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT) e o Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (Fonatrans). Ele também fala sobre a importância de figuras como João W. Nery para o debate sobre transmasculinidades, a união entre os movimentos negro e trans, e os desafios e avanços na pesquisa sobre a gestação de homens trans. Com uma abordagem interseccional e uma perspectiva transfeminista, Leonardo destaca como suas experiências pessoais e profissionais se entrelaçam para promover a cidadania e os direitos civis das pessoas trans no Brasil.
Confira abaixo a entrevista completa.
Quando entrou para o ativismo?
Meu vínculo com o ativismo começou no movimento secundarista no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Eu estava no ensino médio e aí, no primeiro momento, entrei para uma escola técnica, passei no concurso da Faetec para técnico em mecânica industrial e comecei a estudar na Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá, em Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, é uma escola muito conhecida e conceituada nas questões políticas. Tinha muito embate do grêmio estudantil e aí eu comecei a me vincular a algumas correntes políticas lá dentro. Na época, cheguei a me filiar a uma instituição, a UJS, União da Juventude Socialista, que, basicamente, é a juventude do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Lá também tinha outras vertentes, como a do PT, PSB, todas de esquerda. Cheguei a ter alguns cargos e, durante os anos de 2000 e 2003, estive bastante vinculado ao movimento secundarista. Quando se iniciou o debate sobre as cotas raciais, a gente discutia muito sobre isso. Não cheguei a participar do movimento estudantil universitário. Mas, quando comecei meu processo de transição, eu me aproximei novamente dos movimentos sociais, mas dessa vez foi da luta LGBT e do movimento negro.
Na década de 2010, comecei a conhecer ativistas aqui no Rio de Janeiro. Me aproximei, principalmente, de Indianarae Siqueira. Nos conhecemos no grupo TransRevolução, que acontecia na sede do Grupo Pela VIDDA, e fiz parte do TransRevolução durante muitos anos. Foi quando também comecei a fazer parte de instituições sobre a luta trans, como o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades e, depois, o FONATRANS, Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros, e participei de instituições específicas do movimento negro. Hoje, eu faço parte de um coletivo chamado Feminismo Negro no Esporte, onde a gente conta histórias de mulheres negras com o esporte. Então comecei a falar de direitos civis e cidadania das pessoas trans, principalmente atravessado para a perspectiva das transmasculinidades. Depois, por um convite do próprio movimento trans e por eu ser profissional de educação física, comecei a falar muito sobre a questão de atletas trans e, consequentemente, saúde transmasculina, que é o tema que estou estudando no doutorado. Fiz um vínculo do movimento social e com o meu trabalho de pesquisa, trouxe a minha experiência no movimento social para dentro do meio acadêmico.
O que é o IBRAT?
IBRAT é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. É importante dizer que o IBRAT tem o pioneirismo em relação a instituições sobre transmasculinidades. Antes do IBRAT teve a ABHT, Associação Brasileira de Homens Trans e, hoje, tem a Liga Transmasculina João W. Nery, que também é uma instituição nacional. O IBRAT foi lançado em 2012 e, desde então, vem fazendo o controle social das questões específicas das transmasculinidades no Brasil. Sou um dos membros fundadores, estive presente em sua fundação política e, de 2012 a 2014, fui o coordenador estadual do Rio de Janeiro. Depois, de 2014 a 2020, fui coordenador do núcleo de pesquisa. Em 2020, o IBRAT passou por uma reformulação e foi nesse período que me desliguei, mas outras pessoas transmasculinas entraram para dar continuidade a esse trabalho de discutir direitos civis e cidadania das pessoas transmasculinas e homens trans.
Qual é a importância do João W. Nery para o debate sobre transmaculinidades?
O João Nery é o protagonista dessa luta aqui no Brasil. Ele inaugurou o debate público sobre transmasculinidades e levou esse assunto para o país inteiro, divulgando o livro ‘Viagem solitária – Memórias de um transexual trinta anos depois’, lançado em 2011. Ele deu muitas palestras, deu muitas consultorias e escreveu diversos artigos sobre o assunto. Ele era psicólogo, professor universitário, escritor e ativista. João Nery foi a pessoa que mais levou as nossas demandas para o debate público. Ele se preocupou em deixar um legado.
Na época, ele criou vários grupos de homens trans no Facebook, divididos por localização geográfica. Ele queria fazer uma contagem dos homens trans no Brasil e passava para nós, que éramos lideranças nas regiões, para a gente entrar em contato e não perder essa ligação e poder um ajudar o outro. João fez muitas ações, falou em muitos lugares e nos deu muita visibilidade. Ele fez sua transição na época da ditadura militar, um momento muito complexo para o país, quando ele não podia nem fazer a retificação civil dos documentos como a gente faz hoje. Quando ele conseguiu tirar a documentação, teve que abandonar sua profissão enquanto professor universitário e mestre em psicologia. Ele é considerado midiaticamente o primeiro homem trans a ser operado aqui no Brasil.
Quando decidiu organizar um livro sobre transmasculinidades negras?
Sobre o livro ‘Transmasculinidades negras – Narrativas plurais em primeira pessoa’, ele é organizado por mim, Bruno Santana e Vércio Gonçalves e foi lançado em 2021. Organizamos esse livro porque sentimos a necessidade de visibilizar as questões das transmasculinidades negras brasileiras, que são diferentes de outras transmasculinidades existentes no Brasil. A gente decidiu escrever sobre nossas experiências e perspectivas em primeira pessoa para focar nas diferenças. As transmasculinidades são plurais, não existe apenas uma única forma de ser homem trans. O livro toca em temas como gestação, racismo e movimentos sociais. É o primeiro livro que se propõe a discutir transmasculinidades negras no Brasil e é possível encontrá-lo no site da editora Ciclo Contínuo Editorial.
Qual é a importância da união entre o movimento negro e o movimento trans?
Se a gente pensar em uma perspectiva transfeminista, que é uma corrente da qual eu faço parte, a gente vai ver que esse movimento bebe muito da fonte do feminismo negro. A professora Jaqueline Gomes de Jesus, uma intelectual que dialoga com a perspectiva do transfeminismo, fala muito disso. A gente deve muito ao que o movimento negro fez. Estou usando o transfeminismo como exemplo, mas não é só ele. Tudo o que o transfeminismo enquanto uma epistemologia que trabalha as questões relacionadas às pessoas trans e travestis – se entender enquanto trans, lidar com as violências, estratégias de defesa –, a gente deve ao movimento negro. Então é uma perspectiva interseccional e precisa abranger as pluralidades. Um movimento bebe da fonte do outro. Usei o transfeminismo como exemplo, mas não se esgota por aí. Posso dizer também que as principais lideranças do movimento trans são pessoas negras, como, por exemplo, Jovanna Baby, que é uma travesti negra do Piauí e participou da construção do movimento. Em relação aos homens trans, também temos homens negros que protagonizam a luta, como eu, Lam Matos, Luque Palhano, Marcelo Caetano, Alexandre Peixe e ainda pessoas que não são do eixo Sul–Sudeste, como Rai Carlos Durans, do Pará, Sillvyo Lúcio Nóbrega, do Ceará, e muitos outros. Desde o início, a negritude sempre esteve presente no movimento trans.
Como anda a sua pesquisa sobre a gestação de homens trans?
É algo que eu ainda estudo e estou sempre buscando ler sobre essa temática. Em 2015, comecei a estudar sobre gestação paterna – chamo dessa forma para tirar a ideia de que só a mãe gera uma criança. Nesse mesmo ano, apresentei um trabalho no Congresso Desfazendo Gênero, em Salvador (BA), com a ideia de visibilizar a experiência de homens trans que engravidam. Homens trans grávidos estavam começando a aparecer e não era uma realidade mais frequente como é hoje. A gestação de um homem trans não anula a masculinidade dele. Ele continua homem quando gesta e vira pai biológico. Se ele tiver uma relação com um homem cis, uma travesti ou uma mulher trans, existe a possibilidade de gerar uma criança e não terá problema nenhum. O problema será o cis-tema, que não entende esse corpo e naturaliza apenas ideias cisgêneras do que é a gestação. A documentação também pode vir a ser um problema. Para registrar no cartório, ainda consta que quem gera é a mãe. Em um casal gay entre homem trans e cis, os dois são pais. Há diversas questões sobre esse assunto e a gente tem, cada vez mais, colocado ele em debate. Cada vez mais, homens trans e transmasculinos estão engravidando e será que o Sistema Único de Saúde e os hospitais estão preparados para recebê-los? No congresso em 2015, eu quis explicar que existe essa possibilidade. Hoje, a gente já está em outro momento e estamos buscando nossos direitos.
Quando decidiu virar um profissional da educação física?
Sempre fui vinculado ao esporte. Meu pai foi atleta profissional de futebol e meu avô foi atleta de boxe, o esporte foi passando de geração em geração. Eu gostava muito de jogar basquete, mas, como eu não cresci, sou muito baixinho, fui para o futebol e cheguei a ser atleta amador, ainda no feminino, no time onde meu pai era técnico. Eu jogava na várzea. Depois de um tempo, por diversos motivos, não consegui me profissionalizar e fui fazer faculdade de educação física. Dentro de toda essa discussão sobre atletas trans, costumo dizer que o debate não se esgota ao tratar sobre alto rendimento. Meu trabalho tem a ver com pessoas trans no esporte, mas é mais relacionado a questões de saúde. Meu trabalho de doutorado é investigar qual é o impacto que o exercício físico tem na construção da corporeidade transmasculina e qual vínculo a atividade física tem com a promoção de saúde e as reflexões que isso traz. Hoje eu trabalho em um ambulatório trans chamado Identidade Transdiversidade, na policlínica Piquet Carneiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde vou analisar as conjunturas desses homens trans no SUS. Quero falar de outras vertentes que debatem sobre pessoas trans no esporte, para além do alto rendimento.