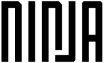“Precisamos garantir a produção dos nossos alimentos”, alerta jovem liderança indígena Tupinambá
Em entrevista à ANA, Raquel Tupinambá fala sobre os conflitos que atingem a região de Santarém, no Pará
A questão indígena tem crescido cada vez mais dentro do movimento agroecológico, e suas pautas têm sido incorporadas nas cartas políticas da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). Recentemente, foi criado o Grupo de Trabalho Agroecologia Indígena para tratar dos temas referentes aos diversos povos indígenas com a participação de lideranças de vários estados do país. É neste contexto que entrevistamos uma jovem liderança da região do Rio Tapajós, em Santarém (PA), na Amazônia.
Raquel Tupinambá, de 31 anos, é a coordenadora do Conselho indígena Tupinambá do baixo Tapajós Amazônia (CITUPI), que engloba um território onde existem 23 aldeias com a reserva Tapajós-Arapiuns sobreposta. Formada em Biologia e doutoranda em Antropologia Social na Universidade de Brasília (UnB), ela fala dos desafios enfrentados nos territórios desta região. Exploração do ouro com os garimpos e da bauxita, dentre outros minérios, e a extração de madeira estão entre os problemas na região.
Na entrevista à ANA, ela fala sobre a importância de estruturar a produção agroecológica local como mecanismo de resistência. Além de promover o desenvolvimento sustentável e combater a devastação ambiental, fortalecer a produção local, segundo ela, serve também para a segurança alimentar dos povos, a geração de renda das famílias e a garantia de permanência nos territórios. Para Raquel, é necessário pensar formas alternativas à produção capitalista e potencializar a rede produtiva local para a venda de seus produtos.
Quais são os conflitos no entorno da sua aldeia?
Vivemos muitas pressões nas nossas terras para a exploração dos recursos naturais, principalmente a madeira. O rio Tapajós sofre também, desde a década de 1970, com o mercúrio utilizado no garimpo. Mais recentemente, algumas pesquisas mostraram a contaminação dos nossos corpos: cerca de 90% das pessoas estão com alta taxa de mercúrio no sangue, devido ao garimpo ilegal. Estamos nos organizando para, cada vez mais, dar essa resposta ao chamado desenvolvimento, que para nós representa a morte e o genocídio, e ao grande capital, pois se não estamos produzindo dinheiro acabamos sendo vistos como pobres. As áreas protegidas e florestas são vistas como reservas de exploração e de geração de renda. Sempre vivemos dos manejos das plantas, da terra, desenvolvemos tecnologias a partir de conhecimento ancestral, que vêm de longo tempo das pesquisas das populações indígenas. Queremos mostrar que sempre produzimos conhecimento, então estamos nos organizando para nossa produção entrar nos mercados.
Vocês ainda não têm selo, agroindústria, beneficiamento da produção etc?
Ainda não, até porque é tudo muito novo e estamos entendendo como funciona o mercado. Estamos vendo quais são as exigências da Anvisa[Agência Nacional de Vigilância Sanitária] e no momento de fortalecer nossa estrutura, não adianta produzir só para a venda, temos que comercializar aquilo que sobra do nosso consumo. Caso contrário, a gente acaba produzindo algo só para vender e comprando coisas de fora com o nosso dinheiro. Precisamos quebrar essa lógica do capitalismo, de produzir para ganhar dinheiro e comprar o que vamos comer. Por isso, é importante fortalecer a produção dos alimentos e do artesanato. Existe uma cooperativa de polpa de frutas e uma associação que abrange outras aldeias e têm organizado essas produções. A cooperativa foi criada mais com esse objetivo de vender a produção, já as associações estão sendo reestruturadas para essa demanda de luta, pois são focadas na garantia dos territórios e justiça social. Muitos projetos de apoio requerem CNPJ para o recurso chegar, então as organizações se articularam.
Precisamos pensar na sustentabilidade do território e na qualidade de vida, no acesso ao dinheiro e a tecnologias para não precisar sair dos territórios e morar nas periferias. Então, temos dado importância à produção de alimentos alinhada à nossa cultura, como os derivados da mandioca, que é a principal cada região. É uma espécie domesticada na Amazônia, além da farinha e beiju, o tucupi preto, como se fosse um shoyu com um produto diferenciado para botar nos mercados. Tem o vinho de mandioca, a partir da fermentação das nossas bebidas, e o molho de cogumelos, além de polpas e geleias de frutas nativas com a ideia de agregar valor. Tem a produção de mel e criação de peixes. Para chegar ao supermercado, precisamos de uma estrutura adequada para atender à legislação e ter toda essa rede produtiva formada. Estamos construindo parcerias, nós, enquanto pessoas que acessamos universidades, para facilitar essas possibilidades. As mulheres são centrais nessa produção, buscamos o empoderamento delas para que tenham sua própria renda e administrem os recursos.
Além da exploração madeireira e da contaminação pelo mercúrio, tem outras ameaças aos territórios?
A extração da bauxita na terra indígena Cobra Grande é uma ameaça aqui perto, pois a empresa Alcoa [Alumínio S.A], já há bastante tempo aqui, quer essa área. Isso representa a morte, que vemos em outros lugares, com os rejeitos provenientes da mineração. Temos muitos desafios enquanto lideranças jovens, precisamos pensar em coisas que realmente sejam diferentes. Construir coletivamente novos rumos, porque no sul do estado tem a questão do arrendamento de terras, pois o manejo da soja e do milho tem afetado nossas comunidades e está pressionando nossos territórios. Quando falamos de mudanças climáticas, de uma fase de não retorno da natureza, precisamos fazer alguma coisa. Pensar como trabalhar tudo isso levando em conta a grande pressão do colonialismo, do que é desenvolvimento, riqueza, acesso ao dinheiro e qualidade de vida.
Quais são as pautas que têm sido discutidas nesses espaços de lideranças jovens indígenas mulheres?
As mulheres indígenas sempre foram as responsáveis por essa produção de alimentos para a família, então temos fortalecido isso e temos ocupado cada vez mais espaços de tomadas de decisões. Temos um coletivo na associação que trabalha nesse sentido, estamos fortalecendo coisas que já vinham em processo visando à soberania e à segurança alimentar. As mulheres têm se empoderado cada vez mais e assumindo espaços à frente das entidades e aldeias, como eu, que sou do conselho e cacica do meu território.
Quais as pautas em destaque nesse conselho do qual você faz parte?
Principalmente a defesa do território. Começamos um processo de demarcação e, agora, estamos nos fortalecendo para pressionar o estado a realizá-la.
Você está fazendo doutorado, o que tem sido discutido por esses jovens que crescem com um novo tipo de saber mais institucional?
O acesso à universidade tem sido muito importante, o fato de eu ocupar minha função, deve-se muito a isso. Estamos assumindo a frente das lutas, então as nossas lideranças entenderam que é importante ter essa leitura do mundo exterior. Muitos dos jovens que ocupam esses espaços tiveram esse acesso. Tem pontos positivos quando se está na luta e vai para a universidade pensando nela, mas, quando se está dissociado, pode ser um problema e fazer parte da exploração daquele território.
Na sua idade você ainda pegou o governo Lula, qual a sua leitura desses últimos governos?
No governo FHC [Fernando Henrique Cardoso] eu ainda era muito criança e não tinha leitura. A produção era muito desvalorizada, a gente trabalhava muito e não vendia muito. Com o governo Lula, tivemos acesso à universidade, aos Institutos Federais na Amazônia, colégios técnicos, foram abertos cursos para muitas populações indígenas. O governo Lula, no entanto, tinha a leitura da natureza como principal fonte de geração de renda. Então, os grandes empreendimentos foram fortemente pautados e com casos muito ruins, como o caso das hidrelétricas Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. Queriam aumentar a renda do país para ele se desenvolver, mas essa conta foi paga com a destruição da natureza também nos últimos governos. Mas, no atual governo, estamos ainda mais fragilizados, com possibilidade de sermos eliminados, então a gente vivencia uma história que não é recente mas é bastante ruim.
Existe algum canal de interlocução entre o governo, a direção da Funai e as entidades e movimentos?
O orçamento da Funai tem sido terrível e dificulta muito o trabalho das equipes. O departamento responsável por esses projetos foi sucateado. Claro que nos outros governos houve mais possibilidade porque havia pessoas que defendiam as pautas. Tem servidores que conhecem muito as causas indígenas e têm atuado, mas com muita limitação para trabalhar. Praticamente não existe diálogo entre as entidades de representatividade indígena e o governo. Por outro lado, a gente, enquanto movimento indígena, tem se fortalecido cada vez mais. As organizações de base são relativamente recentes, começaram na década de 1970 e 1980, e, desde a constituinte de 1988, têm se fortalecido. Elas estão com funções muito importantes na defesa dos territórios e na luta como um todo, algumas inclusive recebendo apoio de fora do país.
Como você enxerga a comunicação do movimento neste contexto? De fora, dá a impressão de um crescimento bem considerável e independente com força expressiva das juventudes.
Temos utilizado os próprios comunicadores indígenas para atuar nas organizações. Isso tem sido muito interessante, porque quem faz parte do contexto conta a narrativa da forma que a gente entende. É muito positivo o fortalecimento desses mecanismos de luta, que é a comunicação popular e os canais que temos. Tanto que na Assembleia da Coiab [Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira] são todos indígenas, alguns da Apib [Articulação dos Povos Indígenas do Brasil] também, jovens que têm mais facilidade com essas tecnologias. Os mais velhos não tiveram esse acesso, então usamos essas ferramentas como forma de luta. Estamos organizando isso nos territórios, com coletivos de audiovisual, para contar as nossas histórias a partir dessas possibilidades.
Alguma consideração final que não tenhamos abordado?
Importante essa denúncia do mercúrio. Temos visto que a água do rio Tapajós que sempre foi muito clara, está ficando mais barrenta. Tem a ver com isso e com o grande tráfego de barcaças levando areia, brita, soja, grãos etc. Além disso, há uma pressão para transformar o rio numa hidrovia. Há territórios estudados pelo DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] para explodir inclusive espaços sagrados, onde, no período da seca, as pessoas se reúnem. O rio está ficando cada vez menos profundo. É uma perda muito grande, inclusive do peixe, que é a principal fonte de proteína. Ainda não temos comprovação das doenças, mas tem muitos casos similares que podem estar relacionados à exposição ao mercúrio. Como diz o [Ailton] Krenak, precisamos de ideias para adiar o colapso e o fim do mundo, por isso é importante focar na nossa produção, pautar isso nas escolas. Trabalharmos em prol de um modo de vida que pode nos dar dignidade também.