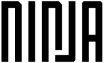O silencioso genocídio da população preta e periférica
Genocídio não é apenas a morte de um grupo, mas a seletividade de seu apagamento histórico
Por Ben Hur
É de praxe, por uma parcela da população, a normalização de genocídios historicamente. Quando parte desta parcela, de alguma forma, busca tangenciar-se com elementos predecessores da famigerada Casa-Grande, temos um escusado genocídio cujo o alvo principal é um povo estatisticamente marcado por situações homéricas de violência policial e de sua longa, pífia e constantemente efêmera esteriotipização por grande parte da mídia – que se apropria de sua vulnerabilidade social e a falta reversível de vozes defensoras para alarmar a classe média sobre sua suposta frivolidade.
Um povo marcado pela apartação sexual, social e trabalhista que, se não bastasse a ostracização histórica de 350 anos de escravidão no último país no mundo a alforriar seus escravos, teve de se acostumar com trabalhos laboriosos para eventualmente buscar sua inclusão.
É porventura, de suma necessidade ao povo brasileiro, abrir vozes para o povo periférico e, consequente negro, pois mesmo com toda parafernália provida pela mídia com esperanças de reverter erros assumidamente cometidos no passado, temos um longo trajeto para reverter este genocídio, um genocídio proposital de uma população preta e majoritariamente periférica.
Antes de dar ênfase a quaisquer introduções informativas, é extremamente peremptório rever casos de violência policial durante os últimos quatro anos no Brasil, do qual somente no primeiro ano de Jair Bolsonaro no poder, em 2019, tivemos 5.804 mortes sumariamente registradas por policiais, enquanto tínhamos discrepantemente apenas 159 policiais assassinados. De quase todas as 6 mil mortes registradas naquele ano atroz, apenas duas mortes chamaram a atenção nacional por demonstrar não apenas as mortes causadas pela violência policial, mas também pela falta de humanidade em situações facilmente reversíveis pelos seus organizadores.
A primeira ocorreu em 20 de setembro daquele ano, quando Agatha Felix, uma criança habitante do Complexo do Alemão, estava junto de sua mãe em uma kombi quando foi alvejada por disparos policiais que faziam uma operação naquele local. Agatha foi levada para o pronto-socorro, mas não resistiu. Havia subitamente falecido não pelas balas perdidas, mas pela violência pública. Até hoje, hodiernamente pondero se em algum bairro de classe média alta já registrou algum caso de violência policial onde uma criança moradora de um condomínio fosse morta pela segurança pública, da mesma forma que Agatha foi.
O segundo que ocorreu naquele ano foi do garçom Francisco Laércio, que ao retornar do serviço segurando entre as mãos um copo de café e uma sacola, foi abruptamente surpreendido por policiais que deram disparos em sua cabeça, fazendo ele morrer na mesma hora.
O caso de Francisco é um pouco mais usual, homem jovem e periférico, alvo supostamente preferido pelos agentes escusados da segurança pública. Ainda hoje me pergunto se ter 21 anos em um país onde a morte de cidadãos pretos e periféricos com idade paralela de 20 e 26 anos é 2,8 vezes maior que de que cidadãos brancos seria algo bom ou ruim, pois casos como o de Francisco são, pasmem, bem mais comuns que se imagina.
Ainda naquele ano, repleto de imensuráveis perdas, um caso ganhou notoriedade nacional por sua tamanha desumanidade. Foi possivelmente o caso mais horrendo daquele ano em termos de violência policial, no qual Evaldo Rosa e Luciano Macedo, dois cidadãos periféricos oriundos de uma periferia carioca foram alvejados por tiros vindos de armas do Exército brasileiro, que dispararam mais de 257 vezes contra seu carro – um número que seria omitido pelos seus responsáveis, que sugeriram 80 tiros contra seu carro.
Segundo o delegado que apurou o caso, os soldados assassinos haviam confundido o carro de Evaldo com o carro de supostos assaltantes. Algo que me gera ponderações negativas em termos desta declaração até os dias de hoje é que a cor de Evaldo foi o fator principal que levou os agentes do exército confundi-lo com um assaltante. Tudo isso apenas nos implica um pragmatismo inoperante dos agentes que deviam nos proteger, mas que, contudo, apenas servem para nos matar.
O que mais me enraivou sobre o caso de Evaldo, além de sua morte, foi o então presidente da república, Jair Bolsonaro, que ao ser questionado durante uma entrevista sobre o caso simplesmente respondeu: “O exército não matou ninguém”, sendo para mim, classificado como um ser incapaz de demonstrar qualquer compaixão por povos majoritariamente periféricos e que busca fortalecer uma ideia classicista de categorizar sempre seres periféricos como culpados, nunca como vítimas de um sistema que os mata, prende e ostraciza frequentemente.
Em suma, genocídio não é apenas a morte de um grupo, mas a seletividade de seu apagamento histórico. É talvez a maximização de sua aviltação popular e desejos de sempre estabelecer elementos que classifiquem este grupo seleto como inferior e incapaz de adentrar em certos setores da sociedade.
Casos como os de Agatha e Evaldo são mais usuais do que se imagina, eles só reforçam a necessidade de debates prolíficos sobre o genocídio de pessoas como estes e como a negação de certos indivíduos sobre sua morte implica no que considero o fato de que este genocídio não é apenas eficaz infelizmente, mas silencioso como um soco que nos tira a respiração.
É um genocídio que historicamente é omitido por seus responsáveis sempre modificando a acurácia de números, um holocausto racial que nos atinge pois a qualquer hora, a mesma polícia que protege supostos cidadãos de bem, que são inconscientemente classificados como residentes de bairros mais ricos, é a mesma polícia que assassina povos da favela, o meu povo.
Um genocídio brevemente solidificado por agentes midiáticos para a perpetuação de cidadãos pretos nas prisões, um genocídio lento e abrupto simultaneamente, um genocídio feroz e mortal que silencia as verdadeiras vítimas, um genocídio histórico, desumano e silencioso da população preta e periférica.
Em memória de Agatha Felix.
Em memória de Franscisco Laércio.
Em memória de Luciano Macedo.
Em memória das vidas pretas e periféricas perdidas quase sempre por supostas balas perdidas.