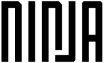O dia em que meu nariz me definiu como negra – notas sobre o racismo à brasileira
Em 1996 eu estava na metade do curso de jornalismo na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom- Ufba). Nesse ano, meu pai Pacífico Teixeira Ramos (1933-2004), conhecido como Chico Preto, foi candidato a prefeito em Iaçu, município onde cresci e que fica a 275 km de Salvador na região da Chapada Diamantina. […]
Em 1996 eu estava na metade do curso de jornalismo na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom- Ufba). Nesse ano, meu pai Pacífico Teixeira Ramos (1933-2004), conhecido como Chico Preto, foi candidato a prefeito em Iaçu, município onde cresci e que fica a 275 km de Salvador na região da Chapada Diamantina. Era uma campanha dura, sem dinheiro e em oposição às três esferas de governo. Mas meu pai era muito carismático e tinha toda uma trajetória vinculada às pautas progressistas ao longo da sua trajetória. Assim sua campanha contava até com vaquinha dos próprios eleitores. Em uma dessas ações tive que ir na cidade vizinha, Itaberaba, com uma amiga da família. Lá encontramos uma pessoa que conhecia meu pai, mas não sabia que ele tinha outra filha – a minha distância etária para meu irmão Gildásio Ramos é de 11 anos. Em meio a essa conversa, a amiga disparou: “Você não tá vendo aí a marca do parentesco? Olha o nariz de panela do pai”.

Cleidiana e seu pai. Foto: arquivo pessoal
O choque ao ouvir isso foi tamanho que eu senti como se tivesse recebido um tapa. A conversa prosseguiu, mas em meio a um constrangimento. A autora da frase se recompôs e logo entabulou outros temas e voltamos para casa depois de mais ou menos uma hora e não se falou mais nisso. Mas “o nariz de panela” ficou ali latejando, como acontece quando a gente se machuca sem muita gravidade. Mesmo que não ocorra uma fratura, por exemplo, isso não quer dizer que não há sofrimento.
Na época eu não tinha metade do acesso às informações sobre etnicidade, racismo e todas as suas encruzilhadas, inclusive no campo profissional, que tenho hoje. Mesmo que nem sempre abertamente, racismo foi uma pauta presente no meu núcleo familiar mais estreito – pai, mãe e irmão. Lembro também do dia em que uma colega de escola, já na minha fase de ensino médio, fez um comentário sobre o que considerava coragem de uma conhecida por namorar um rapaz “negro muito feio”. Ao meu protesto ela veio com a justificativa: “Mas não é com você. Você não é negra. É morena”. Eu continuei protestando, argumentando e disse: “Pelo menos respeite porque sou de uma família de negros”. E ela: “Ah não. Sua mãe não é negra porque tem olho verde. Seu pai é negro, tudo bem, mas foi prefeito e é bem conhecido aqui. E seu irmão é um futuro advogado. Um negro limpo”. Assim, sem nenhum tipo de rodeio
Essas lembranças têm voltado com força nesses dias de repercussão dos casos de assassinatos de crianças pelos agentes do estado como a mais recente de João Pedro Mattos, que leva a lembrar de Agatha Félix – aquela menina de olhos tão bonitos vestida como a personagem Mulher Maravilha; que me lembra Claudia Silva Ferreira com seu corpo arrastado por uma viatura da PM e tantas outras que morrem em vida porque arrancaram parte de sua alma: suas filhas e filhos que “tinham cara de bandido”, na repetição de linguagem da ciência lombrosiana e adaptada ao contexto brasileiro por “cientistas” como Nina Rodrigues.
É muito ódio por corpos pretos que acabam massacrados por outros corpos pretos travestidos de “polícia” e de outros agentes forjados pelas distorções da mão de ferro do estado para eliminar esses indesejáveis do modelo que uma gente fechada em seus grupos de interesses sonhou e sonha para o Brasil. É parte da batalha de elites econômicas que, mesmo chamada de “gente muito feia”, como tascou o Conde de Gobineau- numa referência a sua “impureza racial”- guerreia para se afastar do que considera uma perigosa aproximação com esses que continuam a ser vistos por elas como “gente menor”. É ainda o Brasil tão bem caracterizado pelo grande Luiz Gama em sua luta incansável para mostrar a aberração que era a escravidão e a hipocrisia que a alimentava:
Bode, negro, Mongibelo/Porém eu que não me abalo/Vou tangendo o meu badalo/Com repique impertinente/Pondo a trote muita gente.Se negro sou, ou sou bode/Pouco importa. O que isto pode?Bodes há de toda a casta/Pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, há rajados/Baios, pampas e malhados/Bodes negros, bodes brancos/E, sejamos todos francos/Uns plebeus, e outros nobres/Bodes ricos, bodes pobres/Bodes sábios, importantes/E também alguns tratantes…
Sinais
E o Brasil multiétnico só acordou recentemente, inclusive no espaço do jornalismo, para as suas tragédias que têm o racismo na raiz porque soou o chamado do “império”: o movimento antirracista americano agindo devido à morte por sufocamento de George Floyd sob o peso dos joelhos de um policial branco.
Mas, em meio ao turbilhão e repercussão dos atos pelos Brasil lá veio o negacionismo cheio de facetas, mas com personagens bem conhecidos vociferando, em artigos ou posts, amparados pela condição de “especialistas”- é impressionante como sobre negação do racismo tem gente que não escreveu uma linha antes sobre, mas na hora que observa um movimento para combater este mal ganhar projeção já tem o argumento frágil, mas cheio de arrogância para lançar nas suas áreas de prestígio e negá-lo. E lá jorraram os clichês, em alguns casos maquiados e em outros nem tanto, de que “o movimento negro brasileiro”, assim no singular, o que já é um indicativo de desconhecimento, “copia” o americano (lá também não é algo único) ou afirmando que o racismo persiste porque insistimos em ficar falando dele. Reapareceram as figuras que reivindicam não ser enquadradas em categorias como “branco e negro” e denunciando um tal de autoritarismo de “movimentos identitários”, mas que se mostram ainda mais autoritárias ao desejar enfiar as outras e outros nas suas categorias – híbridas, mulatas, mestiças ou o que quer que seja. Tem ainda os que se atribuem um papel de senhores que descobriram a fórmula de resolver o problema de cor da pele (evitam a palavra raça porque a dizem ultrapassada), mas não mostram nenhum tipo de entendimento novo sobre esse fantasma que atormenta o território brasileiro desde que os colonizadores portugueses estavam muito ocupados em adotar estratégias para dominar os “pretos da terra” (indígenas) e “pretos da guiné” (africanos escravizados). Os que acham que tiveram uma epifania sobre a questão racial ignoram quem tem gastado muita energia, escrita e investimento em produção do conhecimento sobre o tema. Mas é porque estão mais empenhados em produzir uma análise rasa que só repete argumento embolorado, mas conta com uma claque fiel desesperada para ver seu pensamento não necessitar sair da caixinha confortável. Ora, qualquer pessoa com o mínimo de leitura especializada sabe que posição binária -branco/negro- não é um discurso unificado dos movimentos negros. Colocar todo mundo no mesmo balaio é, no mínimo, má fé.
Dizer que as categorias raciais sejam lá quais forem é “invenção recente” em um país “miscigenado” é bem próximo do pensamento mágico que alimenta a baboseira de “consciência humana” ou “somos todos iguais, pois a raça é humana”. Mas o alto consumo de tinta para cabelo e de alisante- que usa até formol- talvez sirva como um indicativo inicial para os negacionistas sobre as origens dessa obsessão em apagar determinados traços que foram racializados pelos mais variados discursos . Não foi uma ativista do movimento negro, por exemplo, que me conectou rapidamente a uma categoria racial pelo “meu nariz de panela” embora me apontassem em vários círculos sociais como “morena cor de canela” e na minha certidão de nascimento optaram por me classificar como “parda”.

O meu nariz. Foto: arquivo pessoal
Da mesma forma que fui classificada como parda foi também meu irmão que tem a pele em tom mais escuro. A categoria foi a mesma usada para outras e outros parentes de pele, cabelos e olhos mais claros da mesma geração. Uma dessas minha parentas, de quem sempre fui muito próxima, era sempre a escolhida para desfilar nas procissões de Iaçu como anjo, mesmo a contragosto porque já estava ficando mocinha. O dia que tomei coragem para pedir à responsável por selecionar e fantasiar as crianças de anjo até consegui, mas ela me negou as asas de isopor. Quando, em um fiozinho de voz, pois tinha meus dias de timidez, perguntei porquê ela retrucou: “Você já é muito grande para sair de asas”. Se hoje tenho 1,55 cm, imaginem como eu era “crescida” aos oito ou nove anos quando isso ocorreu. Foi interessante quando, ao lado dessa parente e amiga, fui assistir uma das sessões de Cabaré da Rrrrraça, espetáculo do Bando de Teatro Olodum, e uma atriz declama que nunca pôde ser “anjo de procissão” por ser negra. Após a cena essa minha parenta comentou: “gente…era verdade” porque já havíamos discutido essa questão de racismo sob essa ótica.
Óbvio que essa consciência veio com o tempo e as lembranças foram se encaixando quando eu passei a viver em Salvador. Na capital baiana somos muitas negras e negros transitando e passando, gradativamente, a ocupar espaços que historicamente nos foram negados. Quando ganhamos visibilidade passamos a incomodar como corpos fora do lugar. Não foi nem uma nem duas vezes, quando trabalhava em jornal-, nesta plataforma só aparece nosso nome, sem fotografia- que, ao chegar para entrevistar uma fonte, especialmente quando era vinculada às elites econômicas locais, ela não disfarçava a surpresa ao ver a dona da assinatura de repórter: “É você a jornalista? É que você é tão jovem que pensei que ainda fosse uma estagiária ao te ver entrar”.
Não adiantou a minha identidade de “morena” mais comum na minha cidade. Aquela amiga da minha família sabia muito bem que eu era tão negra quanto meu pai Chico Preto. Não tinha a cor “retinta”, mas o “nariz de panela”. E tem ainda a boca e o cabelo que ela não continuou indicando porque o nariz, naquele momento, bastou para me categorizar.

O meu nariz. Foto: arquivo pessoal
Ah mas ainda tem os defensores da meritocracia que dizem que isso não é impeditivo. Só que racismo tem a ver com poder e não apenas com relações interpessoais. E opera muito, para ficar no campo da minha atividade profissional, quando jornalistas negras- gênero é mais um condicionante na violência- são minoria ou não estão nas editorias de política ou de economia. Nesta cidade da Baía de Todos-os-Santos, que celebra em prosa e verso sua herança negra, contam-se nos dedos as mulheres negras que estão na bancada de telejornais. O mesmo para os homens negros. Repórteres também. E aquelas e aqueles que chegam sabem bem desses meandros e das batalhas diárias para dar um passo depois de ter recuado mais sete.
Lições
Portanto, não adianta a atuação dos negacionistas ou, para ficar na linguagem das redes, dos “passadores de pano para o racismo à brasileira” porque os movimentos negros- e sempre no plural- não começaram ou estacionaram nessa ou naquela manifestação. Eles vão estar atuando na visibilidade em alguns momentos, na invisibilidade em alguns espaços, mas presentes. As lógicas e estratégias de várias dessas organizações foram as que concretizaram Palmares, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos às Portas da Carmo, Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte ( sem usar as nossas categorias de gênero e seus desdobramentos fez “emancipação feminina” e de uma forma bem complexa e eficiente).
Essas articulações oriundas do aperto das estruturas racistas nos deram Búzios e Malês; atravessaram Canudos, Pau de Colher, Frente Negra Brasileira, MNU, Unegro, Conen, Odara e uma lista tão extensa como diversa na pauta e atividades; geraram o Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Baduaê, Olodum, Malê de Balê, Muzenza e tantas outros blocos afros e afoxés ; produziram pessoas-revolução como Antonieta de Barros, Lélia González, Abdias do Nascimento, Luiza Bairros, as sacerdotisas dos candomblés da Bahia, Maranhão, Pernambuco e do Rio de Janeiro, especialmente; as senhoras da nossa tradição do samba. Tudo isso está contado em uma vasta e consistente bibliografia, para quem necessita do amparo acadêmico, que constrói conceitos, desconstrói outros, compara, analisa, critica, põe, retira e produz novas narrativas, nas mais variadas áreas do conhecimento.
A luta antirracista brasileira, companheiras, companheiros, parentas, parentes, malungas, malungos e camaradas não é de agora ou está restrita a um campo político específico, ainda mais em contexto tão difuso como o brasileiro: é antiga e nova; conecta e desconecta para reconectar lá na frente e indiferente às contestações rasas ou oriundas de estelionatos disfarçados de uma erudição, geralmente, escrava de interesses inconfessáveis. E melhor: é contínua. Não adianta negá-la. Uma hora as suas tensões, conflitos e contradições apresentam uma fatura individual ou coletiva. A segunda é bem mais confortável do que a primeira porque pode contar com a solidariedade presente na raiz de vários desses movimentos.