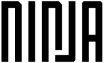De sapatão a transmasculino: um texto sobre orgulhar-se
Eu tive durante 18 anos muito medo de me assumir, não enquanto transmasculino porque na minha cabeça isso nem existia, mas enquanto sapatão, que era o mais próximo do que eu poderia ser com o corpo que tinha.
Quando o assunto é transexualidade e família me sinto num lugar de muito privilégio e não é que eu sou exemplo de uma família burguesa tradicional que aceitou e me respeitou integralmente. Falo em privilégio não por ser burguês e ter tido uma família super entendida do assunto, mas porque a realidade de pessoas transexuais e travestis é a expulsão de casa ou o convívio insistente com a violência, as vezes física, as vezes psicológica, as vezes financeira e muitas vezes todas elas juntas. O Brasil pela 13ª vez é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo todinho, esse ranking é a consequência revoltante e assustadora de uma série de fatores e, sem dúvida, a família é um desses fatores, senão em todos os casos, em grande parte deles e daí meu privilégio.
Eu tive durante 18 anos muito medo de me assumir, não enquanto transmasculino porque na minha cabeça isso nem existia, mas enquanto sapatão, que era o mais próximo do que eu poderia ser com o corpo que tinha. Não tinha exatamente uma compreensão do que era ser sapatão, mas eu queria poder vestir bermudas e camisetas ao invés de vestidos e calçar tênis ao invés de sandálias com saltinhos. Tendo isso pra mim já estava ótimo, sabe? E a verdade é que, ao menos na periferia de São Paulo nos anos 90, o que se aprendia mesmo era a odiar sapatão. Sapatão, inclusive foi um termo que quando me assumi aprendi a ressignificar, mas ainda ouço nitidamente gente descuidada dizendo para minha mãe “Você precisa dar um jeito nessa menina, se não ela vai virar sapatão!” “Essa menina vai ser sapatão, hein.” Mamãe era razoavelmente nova, nascida na década de 60, vovó era analfabeta e a pressão desses comentários insistentes acabou transformando mamãe numa versão de pessoa que jamais me abandonaria por qualquer razão, mas que insistiu para me corrigir pelo medo do que pensariam dela enquanto mãe que não estava tomando “nenhuma providência” sobre a questão. Fui obrigado a ser daminha de honra, vestir vestidos e sandálias, a soltar o cabelo nas fotos, fazer cara de menina – como se existisse uma – e quando resistia acabava apanhando. Vovó ficava bem chateada porque eu era a neta preferida dela e por ela, tudo bem eu ficar do jeito que quisesse, mas escrevendo esse texto agora, começo ter a impressão que mamãe queria ter como se justificar para as pessoas ou me fazer conseguir enxergar a mesma beleza que ela via quando eu performava feminilidade nas fotos, viagens e eventos.

Foto: Arquivo pessoal
Nada disso é sobre julgar as atitudes da minha mãe, mesmo porque, ao mesmo tempo que ela agia de forma violenta comigo, me ensinava muito sobre caráter, sobre não nos abandonar, sobre sempre se importar com nossos estudos e de, à vezes, dar nó em pingo d’água por acreditar que a única coisa que nos salvaria, a mim e minha irmã, seria nos fornecendo a melhor educação possível, algo que ela mesma, minha tia e vovó nunca puderam ter. Lembro dela dizendo que morava num cortiço, um único banheiro para várias famílias e o cardápio alimentar muitas e muitas vezes era arroz branco misturado com molho de tomate. Sou profundamente grato pelo que ela deu conta de fazer por mim e fez de mim, entre erros e acertos, a pessoa que sou hoje, repleta de erros igual a ela, evidentemente, é sólida. Não sou do tipo que me julgo melhor que minha mãe, porque afinal de contas a prima-matéria de quem sou eu, gostando ou não, é dela.
Aos 18 anos eu já não dava mais conta de não me relacionar ou de não expressar minha sexualidade, e as idas ao centro da cidade para conhecer as bandas de meninas que eu supunha serem iguais a mim na MTV ficavam cada vez mais perigosas, porque agi muito na base do impulso: aprendi a beber, fumar e usar drogas sem pensar direito se eu queria mesmo arcar com as consequências. Minha lógica era bem simplista: se essas pessoas que são parecidas comigo fazem isso eu também, para ser aceita, preciso fazer. Mamãe nunca soube bem como reagir a isso, falava pouco de tanta preocupação. Nessa época não existia GPS e eu passava boas horas interpretando o guia de ruas para conseguir chegar no centro da cidade. Lembro até hoje a primeira vez que vi um trecho da Avenida Paulista, ali na região da rua Augusta. Deslumbrante e tão diferente da periferia. Nunca soube nomear essa sensação. Até o chão do metrô era mais deslumbrante. Peças lisas de mármore na linha verde contra o tapetão emborrachado preto da linha vermelha. Meu rolê era na Alameda Santos. Coloquei uma calça jeans apertada, um all star branco, uma camisa branca e lá fui eu, sozinho e em sigilo, conhecer aquelas que na tv não pareciam ser meninas como as outras meninas. Tinha um tabu com a ideia de “sapatão”, o impronunciável, o imundo e assim eu aprendi. Fato é que “encontrar meninas como eu” ou ser sapatão era uma notícia que mamãe merecia saber.

Foto: Arquivo pessoal
Vendíamos DVD e CD pirata na feira, eu tinha medo da reação dela, de apanhar, de sofrer. Daí escolhi uma feira tranquila, num dia de céu aberto e contei. Ela não disse muito. No fim da feira já dentro do carro chorou muito, leu meus diários de amores platônicos pelas outras meninas e finalmente nesse mesmo dia disse que tudo bem, que seguiria me amando igualmente, mas que era pra eu ter mais cuidado e cautela na rua, com as pessoas, nos lugares que eu passaria a frequentar e que qualquer sinal de perigo era pra avisá-la. Fomos juntas nos acostumando. Eu a ser sapatão e ela a ser mãe de sapatão. Nada fácil: muitas brigas, discussões, entendimentos, desentendimentos, malas arrumadas para ir embora de casa, e muitos momentos de convicção plena que não seríamos capazes de nos aceitar e amar. Foram 25 anos de muita batalha. Daí o Bernardo chegou na minha vida. Considerei nem contar sobre a transexualidade, porque na verdade nem eu entendia direito. No começo o desejo é muito forte, uma vontade assustadora só de pensar na possibilidade de “TER UMA BARBA PRA CHAMAR DE SUA”, mas daí você pensa nas pessoas e fica menos corajoso, pensa na mãe e a vontade fica quase imperceptível, pensa na sobrinha e avalia se pra ela não será confuso. Um drama sem fim repleto de paranoias, medos e sensações do tipo “esquece tudo isso, vai ser muito difícil” E de fato, é! Precisei de muita coragem e da Bianca me dizendo “você merece ser feliz. Você merece ser feliz.”
Bernardo nunca foi tão corajoso quanto a Bianca de ter escolhido um dia, local e horário e de ensaiar um texto sobre essa segunda saída do armário. Bernardo nem queria contar, mas um belo dia eu simplesmente contei, pra mamãe, minha irmã, minha sobrinha estava ali ouvindo (ouvidos atentos e distraídos ao mesmo tempo), e um grande amigo da nossa família, uma pessoa que me pegava com um braço só quando criança. Mamãe e Kamila ficaram incrédulas, sabiam dizer pouco ou quase nada sobre tudo o que eu estava contado. Minha sensação era de que o cérebro e processador de ambas tinha dado tela azul sem previsão de volta. Falei em mudança de documentos, uso de testosterona, retirada dos seios, uma naturalidade ímpar. Já tinha consumido sei lá deus quantas horas de conteúdo na internet, me sentia um expert sobre o assunto. Quando o cérebro de ambas voltou a funcionar mamãe disse: “ah, você tá brincando, né?”

Foto: Arquivo pessoal
Assim como aprender a conviver com a cultura da sapatão, é uma dedicação contínua aprender a conviver com a transexualidade. Mamãe ainda me chama de Bianca, erra os pronomes e como já faz 4 anos de uso de testosterona, quando ela me aciona pelo pronome feminino na frente de outras pessoas a tela azul cerebral se estampa no rosto das pessoas, o mais engraçado é que o conflito dessa terceira pessoa nunca parece imaginar que eu sou uma pessoa transexual e minha mãe ainda está se adaptando, o conflito se resolve rapidamente assim: “essa senhora tá com um parafuso a menos, vamos em frente, coitada dela.”
Não é um processo fácil para a família, amigos e pessoas que te conhecem antes da mudança, é claro que pra quem é trans também não é, eu por exemplo, fiquei muito receoso com tudo, pisando em ovos. Um dia fui num terreiro de umbanda, ainda não usava hormônios, me fizeram colocar uma saia. Anos que eu não voltava a sentir aquele sentimento constrangedor da meninice e das obrigações da feminilidade. A consulta era com um caboclo e ele me disse assim “você precisa aceitar a sua energia, aceitar o que escolheu pra você e viver com orgulho com aquilo que sabe que é o que você quer, quando conseguir isso, as pessoas vão te aceitar também, confia!” Construí essa energia com a certeza de que habitei duas identidades plenas, sólidas, inquietantes e revolucionárias e que ter sido Bianca e agora ser Bernardo é sobre compreender o significado de orgulho. Mamãe, papai, minha irmã, sobrinha, avôs/avós e tias, estando ou não nesse plano chamado vida, constroem esse legado ao meu lado.